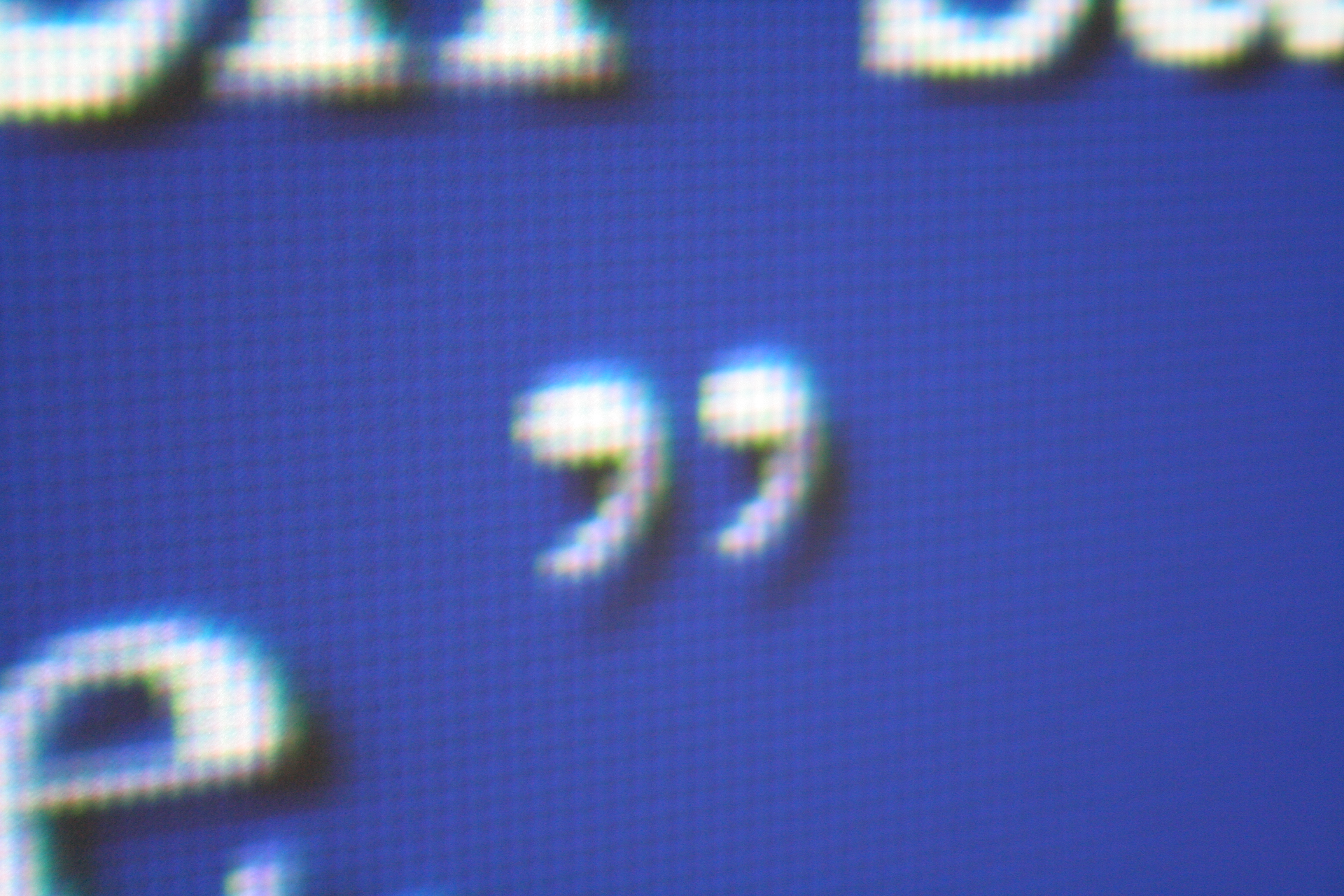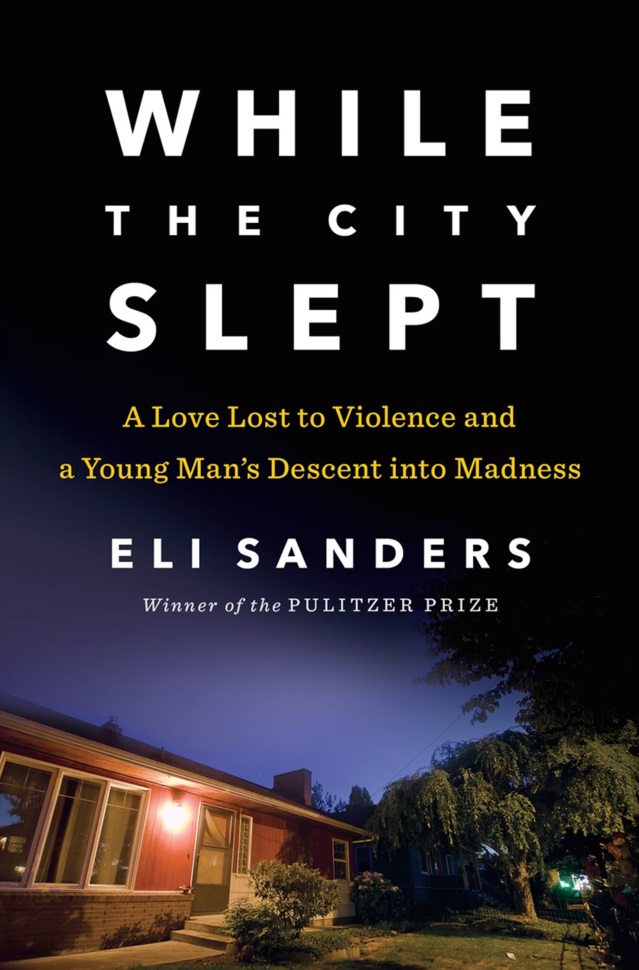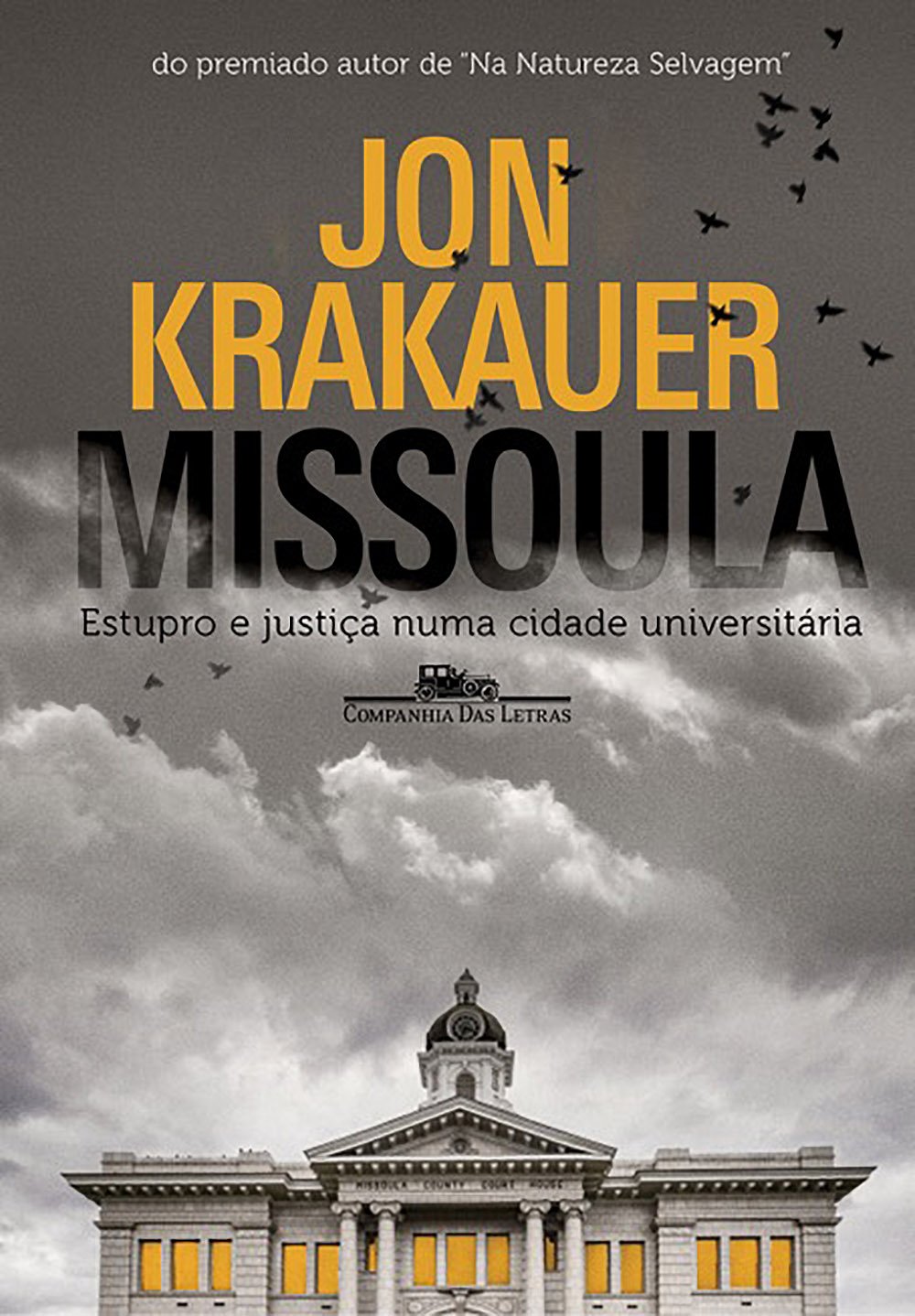Na próxima semana Lin-Manuel Miranda e boa parte de seus companheiros de elenco deixam o musical “Hamilton”, em cartaz na Broadway há cerca de um ano. Mesmo que você estivesse em Nova York até lá, as chances de colocar as mãos num ingresso para o espetáculo seriam próximas de zero. Não só os valores são altíssimos (um recorde de US$ 849 pelo ingresso mais caro) como os poucos ingressos são disputados a tapa. Mas de alguma forma, apesar de toda essa exclusividade, o frisson em torno de “Hamilton” saiu da Broadway, de Nova York, dos Estados Unidos, e atingiu até pessoas que nunca viram um musical na vida e nem gostam particularmente do gênero. É um fenômeno — e felizmente pode ser aproveitado mesmo por quem não for ao teatro.
Para entender o sucesso de “Hamilton” é necessário conhecer seu criador. Lin-Manuel Miranda trabalhava como professor de inglês na escola em que estudou quando começou a escrever seu primeiro musical, “In the Heights”, que usava o hip hop para contar a história de uma comunidade latina em Nova York. O espetáculo de 2008, que vai virar filme e teve uma versão no Brasil anos atrás, ganhou quatro prêmios Tony, o mais importante do teatro. Foi o suficiente para colocar Miranda no mapa. No ano seguinte, ele foi chamado à Casa Branca para se apresentar numa noite de poesia e música. “Estou muito feliz por a Casa Branca ter me chamado para hoje. Estou trabalhando num disco de hip hop, conceitual, sobre alguém que acho que encarna o hip hop: o Secretário do Tesouro Alexander Hamilton. Vocês riem, mas é verdade!”, disse ele na ocasião.
Miranda havia comprado uma biografia de Hamilton num aeroporto para levar numa viagem e não conseguiu mais largá-la. A história de Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e autor de vários artigos de “O Federalista”, era, para ele, puro hip hop. Foi graças à escrita que Hamilton conseguiu sair do Caribe, onde levava uma vida pobre, ir para Nova York e se tornar braço-direito de George Washington. Com isso em mente, Miranda escreveu uma primeira música. Só por ela dá para ter uma ideia do que é o musical “Hamilton”, e como é possível aproveitá-lo sem ir à Broadway. Veja a cara do Obama.
Lin-Manuel Miranda, 36, nasceu em Nova York, filho de porto-riquenhos e, já na faculdade, fez parte de um grupo de hip hop chamado Freestyle Love Supreme. Sua capacidade de improvisação é impressionante e documentada em vários vídeos — de aparições em talk shows até em discursos de agradecimento ao receber prêmios. No programa de Jimmy Fallon, competiu com um dos membros do grupo The Roots numa batalha de freestyle e conseguiu misturar as palavras “dinossauro”, “torta de abóbora” e “Darth Vader” em um rap curto. Dê duas palavras para ele e ganhe uma canção. Miranda tem o pensamento rápido e, como Hamilton, é hábil com as palavras. Não só no rap — recitou um soneto escrito naquele dia ao receber um Tony semanas atrás, falando do atentado em Orlando e de sua família numa tacada só.
Ganhador do Prêmio para Gênios da Fundação MacArthur no valor de US$ 625 mil (para o qual não se candidata, se é escolhido), Miranda escreveu uma canção para o sétimo episódio de “Star Wars”, está fazendo a trilha sonora da animação da Disney “Moana” e fará parte do elenco de uma nova versão de “Mary Poppins”, com Emily Blunt. Do jeito que as coisas andam, é um forte candidato a completar o grand slam das artes, o EGOT — que significa levar prêmios no Emmy, Grammy, Oscar e Tony (ele venceu o Emmy em 2014 por uma música escrita para a cerimônia do Tony). Em breve será muito difícil escapar de Miranda, mesmo para quem não tem o menor interesse em teatro.
Mas voltemos a “Hamilton” e à primeira apresentação para os Obama. Naquela época, o musical não era nem um embrião e o conceito de um espetáculo em hip hop sobre Hamilton era no mínimo esquisito. “Sete anos atrás um jovem rapaz veio a um evento de poesia que Michelle e eu organizamos na Casa Branca”, disse Barack Obama ao apresentar o musical no Tony neste mês. “Ele estava trabalhando num projeto sobre a vida de alguém que representava o hip hop: o primeiro Secretário do Tesouro americano, Alexander Hamilton”, completou Michelle. “Eu confesso que dei risada. Quem está rindo agora? ‘Hamilton’ virou não só um sucesso, mas uma aula de cívica da qual nossas crianças não se cansam”, disse o presidente americano, fã do musical. Anos depois daquela primeira visita, Lin-Manuel Miranda se apresentou de novo para os Obama na Casa Branca, acompanhado por seu elenco, e cantou a mesma música, dessa vez no arranjo que se tornou conhecido.
Nessa segunda visita, “Hamilton” já era uma realidade, um musical que estreou na Broadway em agosto de 2015 e vendeu perto de US$ 30 milhões em ingressos mesmo antes de abrir por lá — tinha tido uma temporada no circuito fora da Broadway antes. Neste ano, recebeu 16 indicações ao Tony, um recorde, e levou 11 troféus para casa, incluindo melhor musical, ator (Leslie Odom Jr.), ator coadjuvante (Daveed Diggs) e atriz coadjuvante (Renée Elise Goldsberry). Também levou um Pulitzer e um Grammy.
“Hamilton” é um sucesso de público, arrasa-quarteirão em premiações e também queridinho da crítica. Um exemplo, do New York Times. O texto, com o título “Hamilton: jovens rebeldes mudando a história e o teatro”, começa com a frase “sim, é tão bom assim”. “Reluto em dizer às pessoas que coloquem suas casas na hipoteca e aluguem suas crianças para conseguir ingressos para um hit da Broadway. Mas ‘Hamilton’, dirigido por Thomas Kail e estrelado pelo Sr. Miranda, talvez valha isso — pelo menos para quem quiser provas de que os musicais americanos não estão só sobrevivendo, mas também evoluindo de formas que devem permitir que eles prosperem e se transformem nos próximos anos”, escreveu o crítico Ben Brantley na estreia.
Com os poucos trechos de apresentações disponíveis na internet, em premiações como o Grammy e o Tony, dá para ter uma ideia de como os figurinos e coreografias impressionam, mas só as músicas de “Hamilton”, disponíveis no Spotify, valem a pena. São canções que poderiam tocar no rádio, misto de rap, balada e músicas pop que estariam no repertório de Beyoncé, executadas por um elenco e tanto (Daveed Diggs canta a música mais rápida da história da Broadway, “Guns and Ships”, com 6,3 palavras ditas por segundo, e Renée Elise Goldsberry não fica atrás em habilidade com a linda “Satisfied”). As canções são tão boas que a Atlantic elegeu o disco como o melhor de 2015. Não o melhor disco de trilha sonora. O melhor disco do ano, em qualquer gênero, de qualquer artista. E como o espetáculo é praticamente todo cantado, com poucos diálogos, ouvir o álbum inteiro é uma experiência próxima de ir ao teatro (quer dizer, falando como alguém que não foi ao teatro, é bom deixar claro. Pode ser ilusão, claro, mas é a sensação que fica).
Miranda chegou a passar um ano compondo uma só música, “My Shot” (“Hamilton é tão mais inteligente que eu. Essa é a música em que ele entra na sala e impressiona todo o mundo com a força da sua oratória. Todo verso tem que ser incrível”, disse ele), e o esmero é perceptível. O Wall Street Journal criou até um algoritmo para analisar os versos, constatando diferentes tipos de rimas e paralelos com músicas de artistas como Kendrick Lamar e Lauryn Hill. Tudo isso enquanto constrói personagens complexos como Aaron Burr, o antagonista, e Angelica Schuyler, que se apaixona por Hamilton e abre mão dele por causa de sua irmã, Eliza — gaste alguns minutos escutando “Helpless” e “Satisfied” na sequência, com as letras em mãos e os comentários de Lin-Manuel Miranda, mostrando as inspirações por trás de cada verso e suas bases em documentos históricos (sim, você ainda sai tendo aprendido alguma coisa. Dois pelo preço de um).
Soma-se à qualidade do trabalho de Lin-Manuel Miranda a modernidade do musical. Alexander Hamilton viveu de 1755 a 1804, mas em tempos de grandes discussões sobre imigração mundo afora — e particularmente nos Estados Unidos de Donald Trump –, “Hamilton” traz algumas lições importantes (“Imigrantes, nós fazemos o trabalho”, diz um verso). “É uma lembrança de que os imigrantes construíram este país, seguidas vezes, repetidamente, ao longo de seus cerca de 200 anos. Alexander Hamilton foi uma das primeiras histórias disso”, disse Miranda à Folha. “Acredito que, dada a retórica anti-imigrante que está meio que dando as cartas nessa temporada eleitoral, é bom ter algo para lembrar que o cara que construiu o nosso sistema financeiro não havia nascido aqui [risos]. É um contrapeso a essa narrativa.” Suas letras falam de feminismo, ativismo, preconceito. Escolha um tema do noticiário e provavelmente encontrará algum paralelo no musical.
Para contar essa história, Lin-Manuel Miranda selecionou um elenco com negros, latinos e descendentes de asiáticos para interpretar personagens brancos. “Nosso elenco tem a cara da América de hoje e é certamente intencional”, disse ele ao New York Times. “É uma forma de te puxar para dentro da história e de permitir que você deixe qualquer bagagem cultural que tenha sobre os pais fundadores na porta. Hollywood tem muito a aprender com “Hamilton.”
Antes de deixar o elenco, Lin-Manuel Miranda filmará duas apresentações de “Hamilton” com o elenco original, inclusive com membros que já deixaram a produção, caso de Jonathan Groff (que também fez “Glee”). Ele ainda não sabe o que fazer com as gravações, nem dá para saber se algum dia as veremos. Pode ser também que um dia “Hamilton” vire filme, como tantos outros musicais da Broadway, mas segundo Miranda isso é coisa para daqui uns 20 anos. Por enquanto, já ajuda o fato de termos as músicas disponíveis. “Hamilton” é um fenômeno (não à toa ajudou a manter o rosto de Alexander Hamilton na nota de dez dólares). Vale cada segundo.