O relógio batia por volta das 16h20 naquele 2 de outubro de 1992. Para 111 homens presos no Pavilhão Nove do Carandiru, os ponteiros deslizavam feito foices. A cada milímetro, um segundo mais próximos da hora de sua morte. Quem sobrevivesse, ainda encararia a violência, o medo e a humilhação para se tornar memória do horror.
No perfil @carandiru1992, o Risca Faca voltou o tempo em 24 anos. Em feeds frenéticos de informações tão abundantes quanto diversas, resgatamos lembranças terríveis, desconfortáveis, necessárias. Minuto a minuto, cobrimos os acontecimentos como se aquele dia se descortinasse hoje, diante de nossos olhos.
Os tuítes foram publicados nos horários aproximados em que cada evento do massacre ocorreu: do confronto inicial entre detentos até a contagem dos sobreviventes, ainda olhando duas décadas e meia à frente para um futuro de pouco esclarecimento. Abaixo, reunimos todos eles.
O dia 2 de outubro marca no calendário uma data sangrenta e dolorosa como ferida aberta. Há exatos 24 anos, ocorria o massacre do Carandiru.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
A Casa de Detenção de São Paulo, zona norte, na época uma das maiores do mundo, foi alvo de uma ação da PM que matou 111 detentos em 1992.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Se o @riscafaca e o Twitter já existissem há duas décadas e meia, esta seria nossa cobertura em tempo real.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
As fontes são matérias jornalísticas e relatos de dentro dos muros, como do agente carcerário Ronaldo Mazotto, que reuniu fotos e objetos.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Também usamos depoimentos de presos ouvidos por Drauzio Varella em “Estação Carandiru”. E a música “Diário de um Detento”, do Racionais MCs. pic.twitter.com/dPaSaQHChw
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
A música de 1997 foi escrita por Jocenir Prado, ex-detento que não viveu o episódio, mas conviveu com sobreviventes.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“Amanheceu dia 2 de outubro / Tudo funcionando, limpeza, jumbo”, canta o rapper Mano Brown.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Sexta-feira é dia de pelada no Carandiru. Dois times disputam o campeonato interno do Pavilhão Nove: Furacão 2000 vs. Burgo Paulista.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Com quatro pisos, o Pavilhão Nove é a última unidade do complexo carcerário. Lá ficam presos recentes, pouco versados nas regras da prisão. pic.twitter.com/FCJM8gqPdv
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
A rua Dez, no segundo andar, é palco de uma briga entre Barba e Coelho. Os possíveis motivos: cigarro, maconha e até a partida de futebol.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Coelho é zona norte e Barba é zona sul. Em uma prisão superlotada, a briga das duas facções não demora a se alastrar por todos os andares.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“Nunca vi um passa-passa de bicuda e pau como aquele”, diz o preso Zelito sobre facas, porretes e outras armas.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Presos antigos, como Majestade, que viria a ser retratado na série “Carandiru, Outras Histórias”, começam a ficar ressabiados e se recolher. pic.twitter.com/uHfnniuf2M
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Funcionários dizem que, nesta hora, ocorrem as primeiras mortes. Os policiais, mais tarde, confirmariam. Os detentos contrariam a versão.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Brigas assim só costumam esfriar depois de algumas mortes. É a lei da prisão. Temendo uma rebelião, funcionários se retiram.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“A cadeia caiu em nosso poder. (…) Aí protestamos contra a nossa melhoria, que o ambiente já não vinha do melhor”, diz o detento Nardão.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O Carandiru foi construído em 1956 para abrigar 3.500 homens. Em 1992, só no Pavilhão Nove, havia mais de 2 mil. pic.twitter.com/rjnnFNIXAZ
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O Grupos de Ações Táticas Especiais da PM (Gate) chega para conter a rebelião. Helicópteros com atiradores de elite sobrevoam o Carandiru. pic.twitter.com/t5lJIrREQd
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Dentro, colchões queimados e cartazes: “Queremos nossos direitos”. Fora, a avenida Cruzeiro do Sul interditada. Chegam a cavalaria e Choque. pic.twitter.com/vsX1VfW436
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
A represália é certa. Presos derramam óleo e pregos com sangue contaminado de HIV pelas escadas. A armadilha se voltaria contra eles mesmos.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
José Ismael Pedrosa, diretor da Casa de Detenção, tenta dialogar com os insurgentes enquanto a polícia aguarda autorização para entrar.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Bombeiros lidam com focos de incêndio. A Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) chega ao local e se prepara para entrar no Carandiru.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Pedro Franco de Campos, secretário de segurança pública do governo estadual, autoriza a entrada da PM no Carandiru.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Não se sabe se a decisão partiu do governador Luiz Antônio Fleury (PMDB). Em 2013, ele dirá que “não deu a ordem, mas teria dado”.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“Depende do sim ou não de um só homem / que prefere ser ouvido apenas por pelo telefone” https://t.co/eDMxR2tMff
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Uma decisão sem volta. Dali em diante, nas palavras do diretor Pedrosa, eram “a PM, os presos e Deus”. pic.twitter.com/gsm2nQ4WuV
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Um grito ecoa pelo primeiro andar: “ENTRA TODO MUNDO NO XADREZ QUE NÓS VAMOS INVADIR!”
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O coronel Ubiratan Guimarães, comandante da operação, diz que o cenário encontrado pelos policiais é “o inferno”.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Abre-se a portinhola da cela onde o detento Dadá se escondia com mais onze: “Surpresa! Chegou o diabo para carregar vocês para o inferno!”
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Em sua cela, o preso Salário Mínimo consegue sobreviver ao usar o corpulento cadáver de Rambo como escudo.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Cel. Ubiratan Guimarães é atingido por uma explosão e retirado do local.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Meia hora depois, 111 vidas foram metralhadas. Outro grito ordena: “Quem está vivo, levanta, tira a roupa e sai pelado!” pic.twitter.com/4Rglb9XgME
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Caminhando para o pátio, onde horas atrás se divertiam, os homens encaram mais humilhação. Gritos, socos, pontapés e mordidas de cães.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro / Vai pegar HIV na boca do cachorro”
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Os presos são contados e, até as 3h da manhã, obrigados a carregar os corpos sem vida de seus colegas ao pátio.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
“Cadáveres no poço, no pátio interno / Adolf Hitler sorri no inferno” pic.twitter.com/Gt7cGlDJD0
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O diretor Pedrosa diz que a situação está controlada. Do lado de fora, manifestantes e familiares protestam por informações. pic.twitter.com/ItyiSaiIcN
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
No Pronto-Socorro de Santana, o número de mortos é divulgado como sendo oito. Seis presos estão gravemente feridos no Hospital do Mandaqui. pic.twitter.com/AoqB54zTWE
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
No domingo, as capas de jornais como Folha e Estado dariam o número correto de mortos em suas manchetes. pic.twitter.com/JGtWPJohZe
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Folha ainda acusaria o governo estadual de divulgar o número errado de mortos para não prejudicar o PMDB nas eleições daquele fim de semana.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O massacre do Carandiru é o processo mais longevo da história jurídica paulista. Ao todo, 74 PMs receberam penas que vão de 48 a 624 anos.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Até hoje, porém, ninguém foi preso. Não obstante, o Tribunal de Justiça de SP anulou os julgamentos dos réus nesta terça (27).
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O cel. Ubiratan Guimarães foi condenado a 632 anos de prisão em 2001. Em 2002, usando o número de legenda 111, elegeu-se deputado estadual.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Com recurso e foro privilegiado, foi absolvido em 2006 sem passar sequer um dia preso. Meses depois, foi morto com um tiro na barriga.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O diretor Pedrosa foi afastado. Em 2005, enquanto dirigia a Casa de Custódia de Taubaté, foi executado por membros do PCC com dez tiros.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O secretário de segurança pública do estado, Pedro Franco de Campos, foi afastado menos de um mês depois do massacre.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Em 2013, durante interrogatório, o ex-governador Fleury diz que a operação foi “legítima” e “necessária”. pic.twitter.com/ReTFnttYts
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
Até esta data, 24 anos depois, nem o ex-governador Fleury, nem o secretário de segurança pública Franco de Campos sofreram penas judiciais.
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 2, 2016
O Carandiru fechou as portas em 2002, após 46 anos ativo. Em 8 de dezembro daquele ano, foi parcialmente demolido. pic.twitter.com/yrAYfWWcf4
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 3, 2016
Em 2007, o local se transformou no Parque da Juventude. Sua história continua viva, uma chaga incurada da truculência e o descaso do Estado. pic.twitter.com/EIeCHIKgD5
— Carandiru, 24 anos (@carandiru1992) October 3, 2016











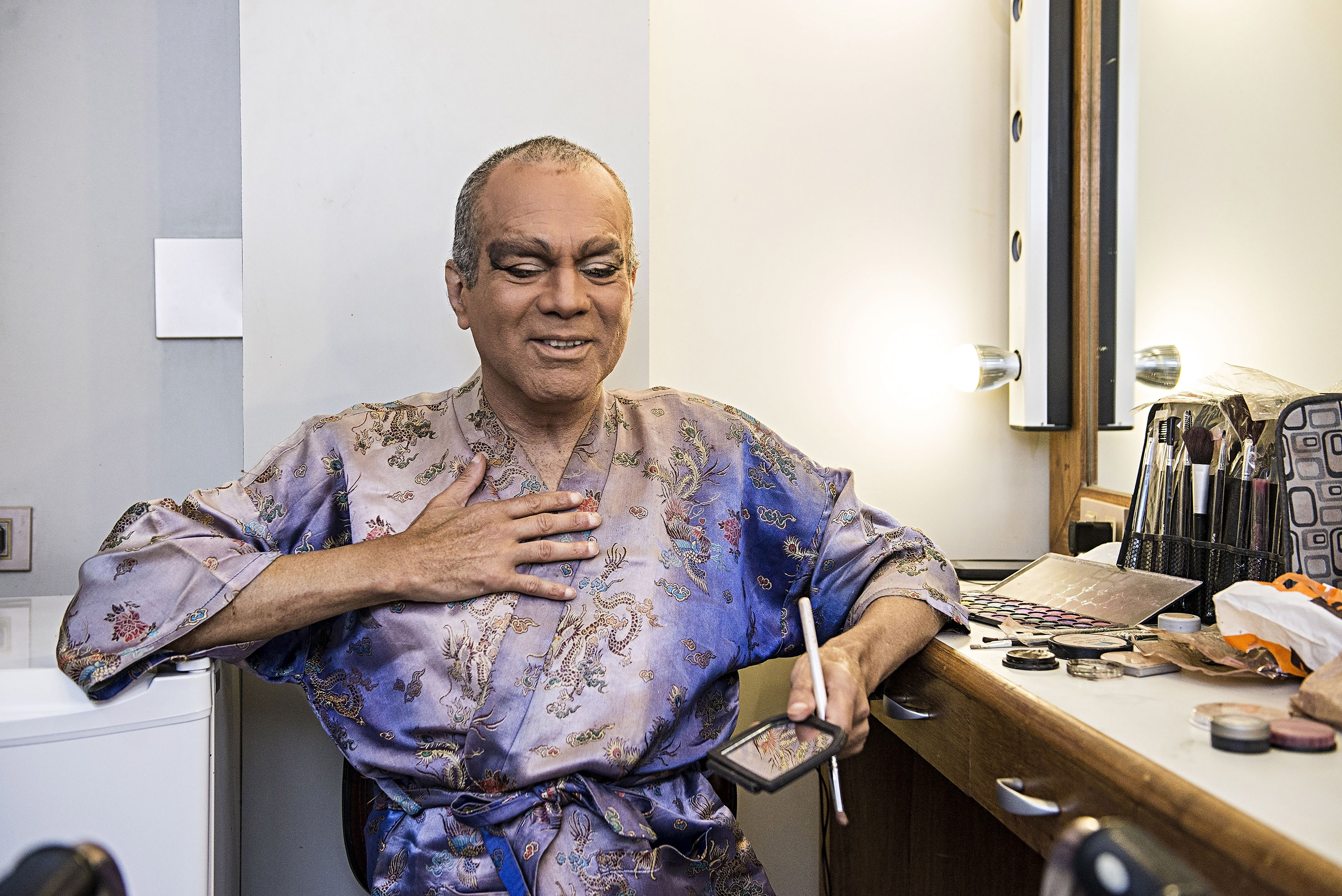 [/imagem_full]
[/imagem_full] [/imagem_full]
[/imagem_full] [/imagem_full]
[/imagem_full]





