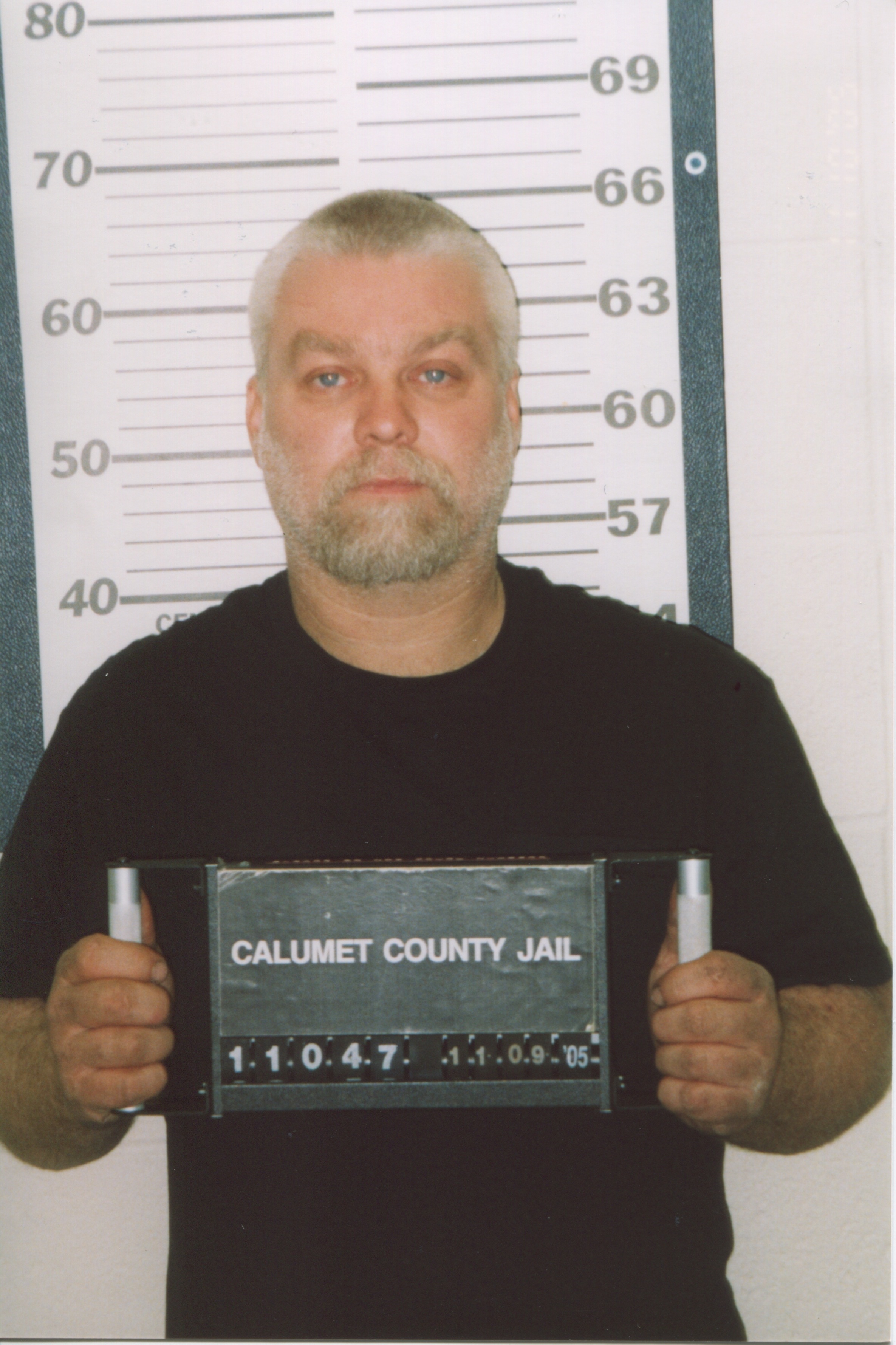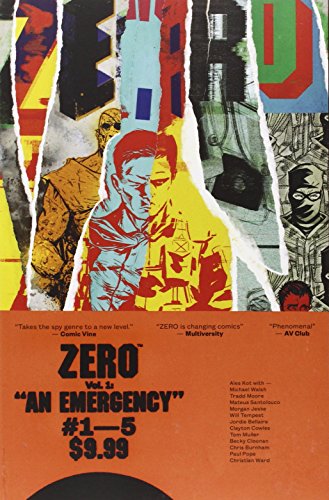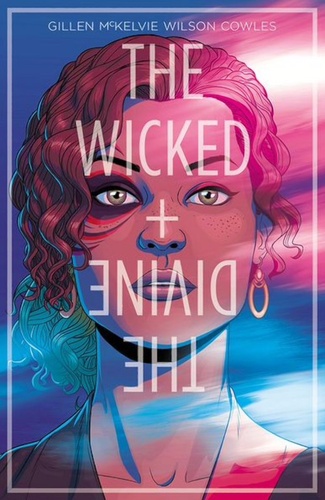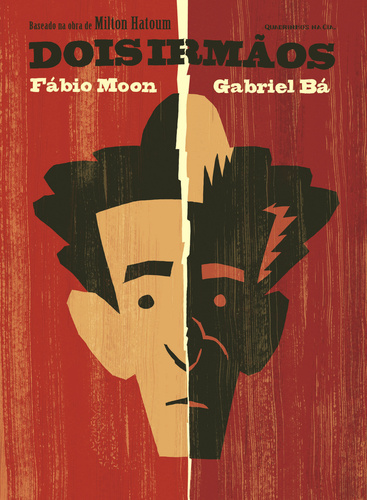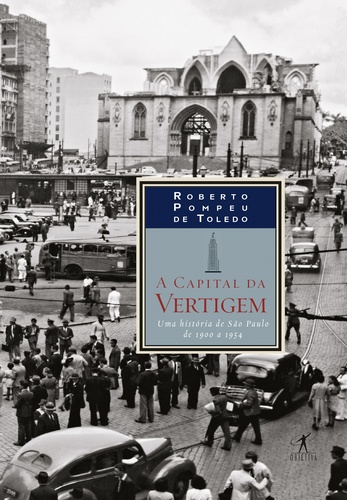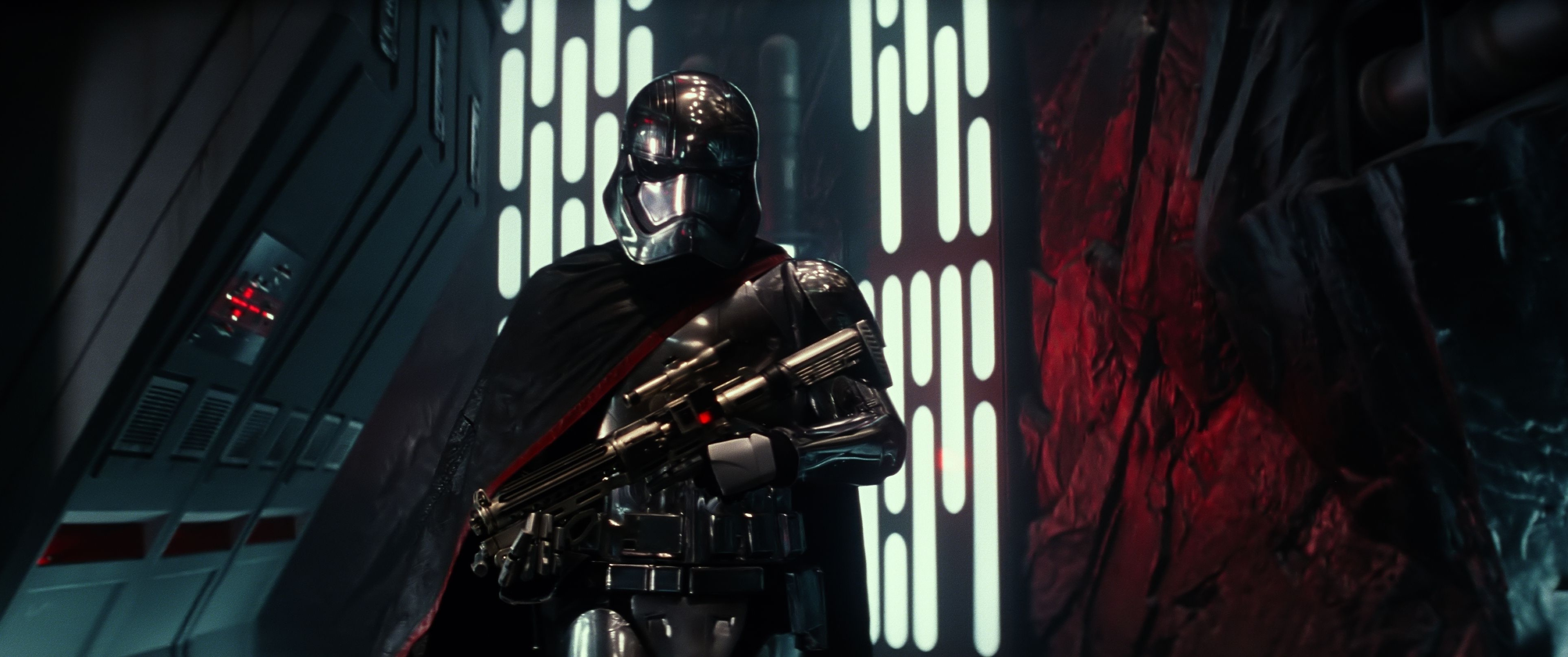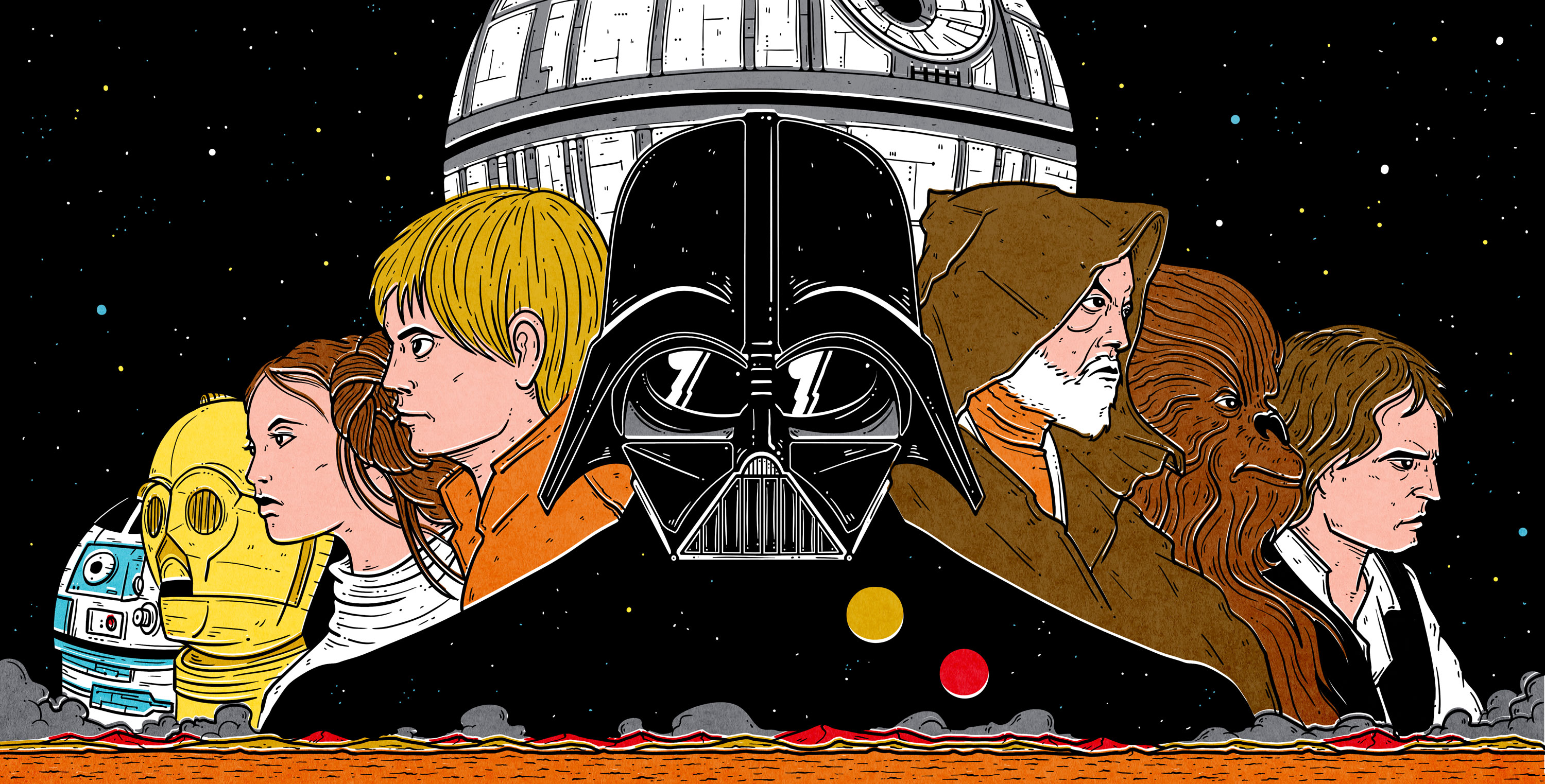Joshua Oppenheimer era um jovem cineasta formado em Harvard quando foi à Indonésia ensinar um grupo de trabalhadores de plantação a fazer seu próprio documentário. Descobriu por lá uma história pouco conhecida, sobre um massacre de pelo menos 500 mil pessoas (o número pode chegar a 1 milhão) acusadas de serem comunistas em 1965 – quando começou no país uma ditadura militar.
O cineasta, hoje com 41 anos, voltou ao país em 2003 e dedicou-se desde então à produção de dois documentários, ambos indicados ao Oscar, que se complementam. “The Act of Killing” joga luz sobre os assassinos, que em vez de esconder aquilo que haviam feito, vangloriavam-se do passado. É um filme pouco convencional, pois Joshua dá aos autointitulados gângsteres a oportunidade de dramatizar os assassinatos da forma que quisessem, resultando em cenas tão bizarras quanto assustadoras.
“The Look of Silence”, que disputa o Oscar deste ano, gira em torno de Adi Rukun, que resolve confrontar os responsáveis pela morte do irmão, Ramli. Sob o pretexto de fazer um exame de vista nos assassinos, hoje idosos, Adi entra em suas casas e, com uma calma impressionante, vai atrás de um pedido de desculpas. Se você ficou curioso, além dos filmes, leia nossa matéria sobre o assunto.
O fim do silêncio na Indonésia: a história de “The Look of Silence”
Pelo Skype, conversei por quase uma hora com Joshua. A conversa flui fácil com ele, visivelmente apaixonado pelos temas de seus projetos. Do papel dos Estados Unidos no massacre aos detalhes mais dolorosos das conversas de Adi com os assassinos, Joshua não deixou de falar de nada – pena que teve de interromper a conversa por questões de tempo. A entrevista foi levemente editada para dar mais clareza.
Risca Faca: Estava comentando ontem sobre os assassinatos com meu irmão, que não conhecia essa história. Eu também não a conhecia antes de ver o filme. Gostaria que você começasse me contando como você descobriu a história do massacre e quando decidiu contá-la nesses filmes.
Joshua Oppenheimer: Eu também não tinha ouvido falar dos assassinatos antes de começar a fazer esses filmes. Em 2001 fui chamado para ir à Indonésia ensinar um grupo de trabalhadores de uma plantação de palma para fazer óleo a fazer seu próprio filme, no qual eles documentariam sua luta para organizar um sindicato após uma ditadura da qual a Indonésia acabara de sair. Na verdade, descobri depois, era a ditadura de Suharto, que tinha chegado ao poder por meio dos assassinatos. Mas não sabia disso na época.
Era um projeto curto. Cheguei nessa plantação, propriedade de uma companhia belga, em que as mulheres tinham o trabalho supostamente fácil de espirrar pesticida e herbicida, mas não recebiam roupas de proteção. As mulheres estavam ficando doentes e morrendo de falência no fígado na casa dos 40 anos. Percebemos, quando chegamos, que isso era causado por um dos herbicidas. Eles falaram com a empresa e pediram roupas de produção, e a empresa respondeu contratando um grupo paramilitar chamado Pancasila Youth para ameaçá-los e atacá-los. Eles desistiram das demandas imediatamente. Eles disseram: “Embora seja uma questão de vida ou morte pra gente, nossos pais e avós morreram em um assassinato em massa no país em 1965 só por serem membros do sindicato nacional de plantações”.
Todos os trabalhadores de plantações eram membros do sindicato e não sei se isso era o suficiente para eles serem considerados oposição ao novo regime militar, que estava chegando ao poder. Eles foram colocados em campos de concentração ou mortos – ou às vezes os dois. Os trabalhadores tinham medo de que isso pudesse acontecer de novo, porque a organização paramilitar Pancasila Youth estava mais poderosa do que nunca e foi o principal grupo a cometer os assassinatos em 1965, com o exército.
Então essa foi a primeira vez que ouvi falar nos assassinatos e percebi naquela hora que o que estava matando aquelas mulheres não era só veneno, não era só o herbicida, era o medo. Foi ali que encontrei o tema dos filmes, que não é o que aconteceu em 1965. Nenhum dos meus filmes é sobre o passado em si, nenhum é um documentário histórico. São filmes sobre um regime de medo, silêncio e impunidade que continua hoje. São sobre um estado presente de medo e silêncio.
Desde esse momento a ideia era fazer dois documentários separados? Eles foram filmados ao mesmo tempo?
Planejei rapidamente fazer dois filmes, mas não os filmei ao mesmo tempo. “The Look of Silence” é o filme que planejei fazer inicialmente, ainda em 2003. Depois que os trabalhadores da plantação me contaram das mortes, fizeram o próprio filme sobre a organização do sindicato e me disseram: “Agora queremos que você volte e faça um filme sobre por que temos medo tantos anos depois”.
Voltei na hora e logo fui apresentado à família de Ramli – Adi, sua mãe e seu pai, a família no centro de “The Look of Silence”. Eles imediatamente começaram a me contar as histórias de 1965 e juntar outros sobreviventes para me contar suas histórias. Mas em três semanas o exército chegou e ameaçou todos que participavam do filme. Eles me chamaram para uma reunião secreta à meia-noite na casa dos pais de Adi e me disseram: “Por favor, não desista. Tente filmar os assassinos. Veja se eles te contam o que aconteceu”. No começo fiquei com medo de me aproximar deles, mas os sobreviventes me encorajaram a tentar.
[olho]Nenhum dos meus filmes é sobre o passado em si, nenhum é um documentário histórico. São filmes sobre um regime de medo[/olho]
O que descobri foi que todos eles se gabavam abertamente e não só estavam ansiosos para me contar o que fizeram como queriam me levar para os lugares onde mataram e demonstram como tinham feito. Claro que os sobreviventes quiseram ver as gravações que me pediram para fazer. Mostrei pra eles e todos disseram: “Você deve continuar a filmar os assassinos. Você está chegando a algo terrivelmente importante, porque qualquer um que veja como eles estão falando será forçado a reconhecer que, de uma forma terrível, o genocídio não terminou. Mesmo que as mortes tenham parado, os assassinos ainda estão no poder e o público vai sentir instantaneamente que milhões de sobreviventes vivem com medo, porque estão rodeados por assassinos que se vangloriam”.
Senti que confiavam em mim para fazer um trabalho que eles claramente não podiam fazer. Seria muito perigoso filmar os assassinos. De 2003 a 2005 filmei todos os assassinos que achei, todos se gabavam, todas estava abertos, todos queriam me mostrar como tinham matado. Em poucas semanas percebi que deveria fazer dois filmes. Um sobre as mentiras, as fantasias por trás da ostentação dos assassinos e sobre como isso manteve uma sociedade inteira nas rédeas do medo, e permitiu que os assassinos se safassem com uma corrupção incrível. Isso, claro, é meu primeiro filme, “The Act of Killing”.
Sabia que teria que fazer um segundo filme sobre o que isso faz com seres humanos normais, ter que viver num regime construído pelos assassinos. Como é viver rodeado por homens poderosos que mataram quem você amava. Isso virou “The Look of Silence”. O 41º assassino que filmei foi Anwar Congo. Eu o conheci depois de dois anos. Fiquei com ele porque senti que sua dor estava perto da superfície. Ele não conseguia esconder totalmente a dor das suas memórias — o medo, a culpa, o trauma. A ostentação não era suficiente para escondê-la.
Comecei a perceber, por meio de Anwar, que talvez a ostentação não fosse verdadeiramente orgulho, mas o contrário: uma tentativa desesperada dos assassinos de se convencer de que o que fizeram foi certo. Porque em seus corações eles sabem que foi errado. Passei os cinco anos seguintes trabalhando com os assassinos para explorar isso: a relação entre escapismo e fantasia, de um lado, e a culpa, de outro. Depois de editar “The Act of Killing”, em 2012 — por cinco anos filmamos e editamos por dois –, voltei para gravar “The Look of Silence” com Adi. Foi antes de “The Act of Killing” ser exibido, quando sabia que nunca poderia voltar com segurança à Indonésia.
Nos seus filmes boa parte da equipe aparece nos créditos como “anônimo”, sem o nome. Presumo que seja por uma questão de segurança.
Correto.
Mas Adi não estava se arriscando ao expor sua cara e seu nome assim? Tiveram que tomar medidas de segurança para protegê-lo?
Quando voltei à Indonésia em 2012, Adi me disse: “Joshua, passei anos vendo suas gravações dos assassinos e isso me mudou. Preciso saber quem são os homens que mataram meu irmão, preciso que eles assumam a responsabilidade pelo que fizeram. Preciso confrontá-los.”. Eu disse na hora: “De jeito nenhum, é muito perigoso”. Ninguém tinha feito um filme em que sobreviventes confrontassem assassinos que ainda estão no poder.
Ele pegou uma câmera que eu tinha dado para ele usar como um caderno de imagens, para inspirar o segundo filme, enquanto eu editava “The Act of Killing” em casa. Adi estava filmando e me mandando gravações. Ele pegou a câmera e me mostrou algo que não tinha me mandado. Ele disse: “Desculpa por não ter te mandado, é algo muito pessoal pra mim”. Ele deu play e me mostrou a única cena em “The Look of Silence” que ele filmou. Está perto do fim, quando seu pai se arrasta pela casa, pedindo ajuda, achando que está na casa de um estranho. Adi começou a chorar na hora que viu a cena.
[olho]Ninguém tinha feito um filme em que sobreviventes confrontassem assassinos que ainda estão no poder[/olho]
Ele disse: “Esse foi o primeiro dia que meu pai não conseguia se lembrar de ninguém da família. Estávamos todos juntos para uma reunião familiar e ele estava confuso, perdido, pedindo ajuda o dia todo e não conseguíamos confortá-lo, porque éramos estranhos pra ele. Toda vez que tentávamos ele ficava com mais medo. Fiquei responsável por cuidar dele e garantir que ele não se machucasse. Estava com a câmera porque planejava filmar a reunião”.
Em um momento foi insuportável não conseguir ajudar e confortar seu pai. Então ele começou a filmar, usando a câmera como escudo para se proteger emocionalmente de ter que ver o pai se arrastar pela casa, com medo. Ele me disse que no momento que começou a filmar percebeu que estava documentando o dia em que ficou tarde demais para seu pai se curar. “Agora que ele não se lembra de ninguém na família, é tarde para ele se curar. Ele se esqueceu do que aconteceu, mas não do medo. Ele não poderá se livrar do medo, não vai poder cicatrizar, porque não se lembra do que aconteceu. Vai morrer numa prisão de medo, como um homem trancado num quarto e que não acha a porta, quem dirá a chave.”
Depois de ver a cena, ele me disse: “Joshua, não quero que meus filhos herdem essa prisão de medo de mim e dos meus pais. Acho que se chegar nos assassinos gentilmente, mostrando que os vejo como humanos, que estou disposto a perdoar se eles reconhecerem que o que fizeram foi errado, eles podem ver isso como uma oportunidade para parar de se vangloriar maniacamente. Aceitar o que fizeram e ser perdoados pela família de uma vítima. Assim minha família vai poder se reconciliar com os vizinhos que mataram meu irmão e nos aterrorizam por tantas décadas. Devo aos meus filhos tentar viver em paz com meus vizinhos, para que eles não cresçam com medo”. Fiquei muito tocado com isso.
Falei com minha equipe e eles disseram que a produção de “The Act of Killing” era amplamente conhecida no país. Como ninguém tinha visto o filme ainda, os homens que Adi queria confrontar – poderosos regionalmente, não nacionalmente – achariam que eu era próximo de seus chefes. Então eles não iriam tentar nos deter ou nos atacar fisicamente. Percebemos que podíamos confrontá-los por causa de uma estranha capa de segurança que tínhamos por ter filmado, mas não lançado, “The Act of Killing”.
Disse a Adi que tínhamos que filmar um confronto teste, sem riscos, em que ele não dissesse quem era. É o primeiro do filme. A primeira cena é de lá, com o homem usando os óculos vermelhos. Ele fica muito bravo. Adi não fala quem é. Disse pra ele: “Temos que filmar um teste, explicar o que estamos fazendo pra sua família e ver se eles estão confortáveis para procurar uma forma de fazer isso em segurança”. No fim, foi o que fizemos.
Tínhamos a família no aeroporto preparada para evacuar em cada uma das conversas. Tínhamos um carro para que Adi pudesse escapar assim que terminássemos de filmar, enquanto estivéssemos desmontando o equipamento. Com sorte, o assassino nem veria que ele tinha saído. Tomamos todas essas precauções. Também disse a Adi que só lançaríamos o filme se fosse em segurança. Tinha uma equipe de cinco pessoas que trabalhava o tempo todo monitorando a segurança da família, que os ajudou a mudar para outra região do país, a transferir as crianças pra uma escola melhor. Tentamos tornar a dor de cabeça da mudança em oportunidades pra família. As crianças foram para uma escola melhor, fizemos um fundo para eles irem a qualquer universidade. Abrimos um consultório para que Adi não precise ir de porta em porta.
E tínhamos um plano B. Todos eles conseguiram vistos para a Dinamarca, para onde iriam se houvesse perigo. Mas o filme foi lançado na Indonésia no ano passado, passou mais 5 mil vezes pelo país, está online agora e temos certeza de que vai ser assistido. Adi tem sido visto como um herói nacional na Indonésia pelo público e pela mídia. E é uma figura central no movimento para verdade, justiça e reconciliação. Até agora não só ele não foi ameaçado e a família está segura como todos estão muito, muito bem.
As conversas com os assassinos têm resultados bastante diferentes. Alguma correu como você imaginava? Os desfechos te surpreenderam?
Cada confronto foi uma surpresa completa. Especialmente as últimas três, acho. A com o tio de Adi foi uma das coisas mais dolorosas que já vi, não sabíamos que ele estava envolvido com as mortes. Adi tinha ido lá pra testar os olhos dele, tinha prometido fazer uma visita da próxima vez que estivesse no vilarejo e eu fui junto pra gente ver se descobria algo sobre a relação dele com Ramli, ver se ele lembrava de Ramli.
Ele contou como foi guarda de Ramli antes de ele ser assassinado. Foi terrível porque quando Adi começa a questioná-lo, perguntar se ele podia ter feito algo para salvar Ramli, o tio fica bravo, defensivo, e começa a usar a propaganda anticomunista para justificar o genocídio. Meio dizendo que Ramli merecia ter morrido e que se Adi continuasse pressionando, também mereceria. Foi um momento horrível, em que um relacionamento que começa amoroso se despedaça em meia hora. Foi uma cena que revelou como essa ferida aberta corta a família. Foi muito doloroso e inesperado.
A cena seguinte, com o pai e a filha, também foi. Fomos encontrar o pai, mas desde que eu o tinha filmado, em 2005, ele tinha perdido a audição. A filha tinha se mudado para a casa para cuidar dele e queria ajudá-lo a entender as perguntas. Isso se transformou numa cena entre Adi e a filha, em que ela percebe de uma forma terrível, pela história que o pai conta, que ele não é quem ela pensava. Ela percebe que ele é um estranho pra ela porque fez coisas terríveis. Vemos a cara dela entrar em colapso com a percepção de que vai ter que passar a vida dele toda cuidando dele, sabendo das coisas terríveis que ele fez.
[olho]Cada confronto foi uma surpresa completa[/olho]
Em vez de fazer aquilo que eu teria feito, que é entrar em pânico e colocar a equipe pra fora pra poder pensar, ela fica muito quieta, escuta sua consciência e pede desculpas a Adi. Ela o força a assumir a responsabilidade de perdoar, algo que ele disse que faria se alguém reconhecesse o erro. Ele não tinha perdoado até então porque ninguém tinha reconhecido. Foi uma das coisas mais delicadas e bonitas que já vi, a reação da filha.
E o confronto final foi igualmente chocante. Com todos os assassinos de “The Look of Silence” eu tinha passado um, dois, três dias, sete anos antes. Mas no caso do confronto final eu tinha passado três meses com aquela família, quando Amir Hassan ainda era vivo, em 2004, para dramatizar sua biografia. O objetivo daquela cena era Adi poder dizer: “Olha, eu sei quem vocês são, vocês sabem quem eu sou, não é culpa de vocês o que seu pai fez, o que seu marido fez, e temos de viver juntos como seres humanos. Não seria terrível se minha filha quisesse se casar com seu filho e não pudéssemos nos unir como família para eles?”.
Achei que essa seria a cena em que ele teria o perdão que buscava, porque ele não estava acusando ninguém de nada. Não tinha me passado pela cabeça que eles fossem mentir e dizer que não sabiam o que o pai tinha feito, porque eu saberia que eles estavam mentindo. E mesmo assim eles mentiram. Eu os pressionei naquela cena a ver mais imagens não porque queria humilhá-los, puni-los ou pegá-los numa mentira. Só queria ultrapassar a negação desesperadamente para termos a conversa para qual tínhamos ido até lá. Nunca chegamos a esse ponto.
Saí da gravação achando que não tinha nada, que tinha sido um fracasso total. Mas na edição olhei o material e percebi que aquela cena torna visível para o espectador, mais fisicamente do que qualquer outra cena, o abismo de medo e culpa que divide todos da Indonésia uns dos outros. Faz você sentir como o tecido da sociedade indonésia está rasgado e quão urgente é a verdade e a reconciliação. Como esse abismo é transmitido de geração a geração. Não haverá democracia genuína enquanto não lidarem com isso, porque não há democracia sem comunidade e não há comunidade quando todos têm medo uns dos outros.
No confronto final a família diz que não gosta mais de você e que quer que você vá embora. Em outros momentos, os assassinos pedem para que você pare de filmar. Teve alguma conversa em que a tensão tenha ficado tão grande que você tenha tido que parar de filmar por questões de segurança?
Os assassinos mais poderosos tinham grupos de gângsteres fora das casas, prontos pra atacar ou expulsar qualquer um de quem os chefes não gostassem. Então estava sempre com medo de que fôssemos fisicamente agredidos. Com eles, quando a conversa ficava muito tensa, eu cortava a cena e tentava acalmar a situação. Dizia: “Olha, estou aqui para filmar uma discussão entre duas pessoas com perspectivas diferentes. Entendo que você esteja bravo, isso é muito pessoal pros dois, mas tentem escutar um ao outro”. Eu moderava a situação não porque me sentia neutro em relação ao que estava acontecendo, mas tinha que acalmar pra que ninguém, principalmente Adi, saísse machucado.
Não tive que parar de filmar nenhuma conversa. Dito isso, todas as cenas, com exceção da filha, terminaram com um impasse terrível. Chegávamos numa espécie de muro que não dava pra ultrapassar. De muitas formas, o título “The Look of Silence” se refere a esse muro. Como ele é? Como é viver com ele?
No dia da morte de Ramli, o filho mais novo da família, que tinha oito anos, ouviu na escola, durante o recreio, o professor dizer: “Essa noite a gente mata o Ramli”. Os professores estavam no esquadrão da morte. Ele foi pra casa naquele dia e disse pros pais que eles iriam matar o Ramli. Dá pra imaginar o que é ter que fazer isso aos oito anos? Naquela noite eles realmente mataram Ramli. No dia seguinte a família estava devastada. Dois dias depois, mandaram as crianças pra escola para serem ensinadas pelo homem que matou o filho dias antes. Dá pra imaginar a tensão insuportável em que essa família vivia? O que isso faz com uma família?
[olho]Chegávamos numa espécie de muro que não dava pra ultrapassar[/olho]
A coisa peculiar, que percebi quando comecei a jornada com os trabalhadores da plantação, foi que o medo e a tensão são invisíveis. Você não pode ver quando vai num vilarejo. Pode parecer bucólico e amável. Como você torna isso visível? Você pode fazer as pessoas contarem suas histórias. Mas quando elas começaram, foram ameaçadas pelo exército. Como você torna isso visível? Não só a dor das histórias do passado, mas a tensão do presente. Está muito no presente. Por meio desses confrontos podíamos fazer isso.
Eu disse a Adi: “Não acho que quando você chegar aos assassinos vá conseguir o pedido de desculpas que espera. Acho o contrário. Você vai chegar neles disposto a vê-los como seres humanos, o teste de vista é parte disso, constrói uma intimidade. Vendo esses homens como seres humanos, eles vão devolver seu olhar gentil e te ver como ser humano. E vão ver Ramli como um ser humano e, por extensão, vão ver suas vítimas como seres humanos. Nessa hora, todas as mentiras que eles se contaram para justificar o que fizeram vão inevitavelmente cair. Todas as mentiras nas quais eles se agarraram são baseadas na desumanização das vítimas. Você as humaniza pela sua presença. Eles vão entrar em pânico, vão ficar defensivos, vão ficar bravos e acho que vamos falhar. Mas se eu puder mostrar por que falhamos, posso mostrar esse impasse, esse muro e vou fazer quem assistir ao filme sentir a pressão incrível sob a qual as vítimas vivem. Através da raiva, das ameaças. Vamos fazer com que vejam que precisamos urgentemente de verdade, justiça e reconciliação para que haja cura e paz permanentes. Assim, podemos ser bem-sucedidos de uma forma mais ampla ainda que falhemos em cada confronto individual”.
Como foi a repercussão dos filmes na Indonésia? O governo chegou a dar alguma declaração oficial?
“The Act of Killing” ajudou a catalisar uma transformação fundamental em como o país fala sobre o passado. Antes ativistas de direitos humanos talvez falassem sobre os assassinatos de 1965, alguns escritores tentaram escrever sobre isso, geralmente com um tom de desculpa, não muito direto. “The Act of Killing” tornou essa conversa nacional. Pessoas conversavam em escolas, instituições religiosas, comunidades, locais de trabalho e certamente na mídia. A mídia costumava ser silenciosa e agora fala disso como um genocídio, como um crime contra a humanidade. Mais importante: eles falam do regime criminoso que está no poder desde o genocídio.
“The Act of Killing” foi indicado a um Oscar, pressionando o presidente a dar uma declaração. Ele disse: “Sabemos que o que aconteceu em 1965 foi um crime contra a humanidade e que em algum ponto do futuro vamos precisar de reconciliação. Mas não precisamos que um filme nos pressione a fazer isso”. Eles meio que menosprezaram o filme, mas foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que o governo reconheceu que aquilo foi errado.
[olho]“The Act of Killing” ajudou a catalisar uma transformação fundamental em como o país fala sobre o passado[/olho]
No espaço aberto por “The Act of Killing” veio “The Look of Silence”. Dois órgãos do governo se voluntariaram para serem os distribuidores oficiais do filme: a Comissão Nacional de Direitos Humanos e o Conselho de Artes de Jacarta, o que tinha sido impossível com “The Act of Killing”, que começou como um segredo. Esses dois órgãos ajudaram a passar o filme no maior cinema da Indonésia, onde cabem mil pessoas. Colocaram outdoors em Jacarta anunciando o filme e 2 mil pessoas apareceram, então foram feitas duas sessões. Um mês depois foram feitas 500 exibições públicas pelo país. Agora colocamos online. Foi chamado de o filme do ano por vários veículos do país.
Isso gerou uma reação do exército, que ainda está formalmente acima da lei na Indonésia. Consequentemente, é o centro de um estado de sombra que intimida e amedronta as pessoas. O exército contratou gângsteres para atacar exibições e 30 foram canceladas por causa disso. O exército pressionou o comitê censor da Indonésia a banir o filme do circuito comercial. Então temos uma situação peculiar: “The Look of Silence” é o primeiro filme da Indonésia a ser indicado ao Oscar – “The Act of Killing” não era uma produção formalmente indonésia – e está banido dos cinemas do país. O órgão censor faz parte do comitê de defesa no parlamento, o que parece loucura, mas é só autoritário.
Há uma batalha sobre o passado e acho que podemos esperar uma longa luta antes que o governo reconheça formalmente que o que aconteceu foi um crime contra a humanidade e mude o currículo escolar. A Associação Nacional de Professores de História criou um currículo alternativo para que professores do país possam dizer “isso é o que deveríamos ensinar, essa é a verdade”. Isso envolve mostrar meus dois filmes a alunos de ensino médio.
Mas acho que será uma batalha para ter reconhecimento do governo, porque quando ele reconhecer isso, reconhecerá que a riqueza e o poder dos assassinos e de seus protegidos é espólio de um massacre e de tortura. Ninguém quer sua riqueza e seu poder deslegitimado assim. Então acho que vai ser uma luta mudar a história oficial, mas ninguém no país acredita mais nela. Acho que tenho tempo para mais uma pergunta!
Em “The Look of Silence” vemos brevemente que os Estados Unidos tiveram uma influência no que aconteceu na Indonésia. Você poderia falar um pouco qual foi esse papel? E houve alguma resposta americana ao que aconteceu após o lançamento de seus filmes?
Aprendemos algo devastador sobre o papel dos Estados Unidos quando um assassino olha diretamente para a câmera e diz: “Eu deveria ganhar um prêmio, um cruzeiro para os Estados Unidos, porque foram eles que nos ensinaram a odiar e matar comunistas”. Para americanos, é um momento muito doloroso, porque ele olha direto para a câmera, para o público. Ele está nos implicando, dizendo que não é só história da Indonésia, é nossa. E nós sabemos que não é a única vez que intervimos, mas talvez mais gente tenha morrido na Indonésia que em outras intervenções no exterior. Essa é uma das muitas, muitas vezes que os Estados Unidos apoiaram atrocidades em outros países. Fizeram isso na ditadura brasileira.
Uma coisa importante é que a Goodyear, uma grande corporação, usava escravos de campos de concentração para extrair o látex que vai em seus pneus. Foi exatamente o que as empresas alemãs fizeram perto de Auschwitz só 20 anos antes. É uma crise de consciência para americanos que veem esse filme, nos faz pensar que o anticomunismo ideológico da Guerra Fria não fosse a razão real para as intervenções. Talvez fosse uma desculpa oficial para cometer atos de pilhagem assassina pelo mundo. Esse reconhecimento dói e levou americanos a fazer perguntas duras sobre a política externa e a violência interna. Não só sobre o complexo militar industrial, responsável pela violência fora, mas o complexo prisional industrial, responsável pela violência em nossas cidades.
O senador Tom Udall, de New Mexico, viu meus dois filmes e introduziu uma resolução no Senado dizendo: “Essa é a história americana e precisamos tirar o selo de sigiloso de documentos sobre nosso papel nesses crimes”. Sabemos de ouvir por aí, de pessoas que falaram, que os Estados Unidos deram dinheiro, armas e treinamento. Também sabemos que eles deram uma lista de 5 mil nomes de figuras públicas da Indonésia – jornalistas, ativistas, artistas, intelectuais – e disseram: “Risquem cada nome dessa lista e nos devolvam quando tiverem terminado”. Listas de morte.
É uma mancha profunda, com o uso de trabalho escravo pela Goodyear e possivelmente outras empresas americanas, sobre a presunção americana de ser uma força pela liberdade e democracia no mundo pós-guerra. Depois de ver o filme, o senador Tom Udall disse que precisamos saber exatamente o que os Estados Unidos fizeram e esses documentos que falem do nosso papel precisam deixar de ser sigilosos. Precisamos assumir a responsabilidade pelo papel que tivemos nesses crimes, porque se não toda nossa retórica sobre direitos humanos será percebida, corretamente, pelo mundo todo como um disfarce hipócrita para o avanço de interesses estratégicos e corporativos americanos.
Então dezenas de milhares de americanos assinaram petições pedindo a seus próprios senadores que apoiem o projeto de Tom Udall. Estamos tentando fazer com que ele chegue a votação no Senado e vire lei.