Rodrigo Santoro tira um papel dobrado do bolso e diz: “Eu realmente não posso falar sobre a série. Tenho uma lista de ‘talking points’ e tudo é muito sobre o conceito”. Estamos — um grupo de jornalistas e o ator — num evento da HBO para apresentar a série “Westworld”, que estreia em 2 de outubro às 23h no canal, mas ele escapa de quase todas as respostas. Pode falar sobre ideias, temas, coisas gerais. Detalhes, não. “Se eu fizer, eles, sei lá, me processam. Coisa assim. Eu assinei um papel, um termo de compromisso. A gente não revela. A série vive disso. Do mistério.”
Embora “Westworld” seja inspirada num filme de 1973 de mesmo nome, não se trata de um remake: os dois só usam a mesma premissa. Tal qual o filme, a série tem como cenário uma espécie de parque de diversões que imita o Velho Oeste americano, com caubóis, bordéis, xerifes e duelos armados. Ali, vivem criaturas chamadas de “anfitriões”, robôs tão perfeitos que quase parecem humanos — e que desconhecem o fato de que não o são. Os visitantes do parque, que os robôs recebem como hóspedes recém-chegados na cidade, podem satisfazer ali suas fantasias mais primitivas: passar horas com prostitutas, estuprar, matar. Respeitando as leis de Asimov, faz parte da programação dos anfitriões que eles sejam incapazes de machucar os visitantes. É um espaço seguro, então, para as pessoas mostrarem suas piores facetas sem medo das consequências.
Não haveria série sem um conflito e, se há robôs no meio, é seguro apostar que em algum momento eles se voltarão contra os humanos que o criaram. É o que a série indica que irá acontecer: no primeiro episódio, depois que seu criador (Anthony Hopkins) faz uma atualização para deixá-los com gestos ainda mais humanos, alguns anfitriões começam a apresentar defeitos e a agir fora do roteiro que são programados a seguir.
É o caso, por exemplo, do pai da protagonista Dolores (Evan Rachel Wood), a anfitriã mais antiga do parque. Dolores, uma mocinha sonhadora que só vê a beleza no mundo, é apaixonada pelo forasteiro Teddy (James Marsden), sobre o qual pouco se sabe de início. Os outros personagens principais incluem Hector (Santoro), um bandido procurado pelo xerife, Maeve (Thandie Newton), uma prostituta local, Bernard (Jeffrey Wright), programador dos robôs, e um personagem cujo nome desconhecemos, mas com muito sangue nos olhos, interpretado por Ed Harris. Ao fim da primeiro episódio, tudo ainda é meio vago.
Tudo é mistério também para os atores, diz Santoro. “Foi muito desafiador o laboratório, porque não deu pra fazer laboratório. Porque eu não tenho informação, a gente não tem informação”, conta. “O que a gente sabe é o que nos é passado, e a gente recebe o roteiro um pouco antes do dia de filmagem.” Sem poder se aquecer, preparou-se para estar preparado. “Trabalhei o corpo, porque a gente trabalha com esses anfitriões que não são humanos, mas são muito próximos dos humanos. Não são robôs. A gente tem, claro, um corpo diferente, uma forma diferente, mas ao mesmo tempo não é robotizada. Mas tudo isso ainda está sendo desenvolvido enquanto a gente está trabalhando.”

Santoro diz que escolher um papel é um pouco como fazer um amigo: quando sente uma química ao ler o roteiro, sabe que é o personagem certo. “Não existe uma fórmula e nem sempre é da mesma forma. Mas é como quando você encontra a Maria, vai pra casa e fala ‘po, a Maria é legal, né’. Por que ela é legal? Você nem conhece ela direito. Não sabe por que, mas tem alguma coisa que aconteceu ali e essa relação eu vejo quando leio as coisas de um personagem”, afirma. “Eu recebi o [roteiro do] piloto, o primeiro, quando tive o convite pra fazer a série. Eu adorei o que eu li. Claro que tem todo o pacote, os atores envolvidos, um monte de coisa que era muito sedutor.”
Hector e os outros robôs têm a possibilidade de se transformar de cena a cena. Suas ações dependem da interação com os visitantes e é interessante ver como uma mesma situação — como o encontro de Dolores e Teddy, que segue o mesmo roteiro todos os dias — pode se desenrolar de formas levemente diferentes dependendo de quem está no parque. Na mesma cena, portanto, os atores podem colocar nuances diferentes. Também pode acontecer de os manipuladores dos robôs trocarem o papel de uma das máquinas, mudando completamente o personagem. Um dia você pode ser bandido e no outro, o xerife. Dessa forma, no primeiro episódio, entendemos como o mundo de “Westworld” funciona, mas não há muitos acontecimentos: vemos as mesmas pequenas cenas cotidianas (Dolores acorda, conversa com o pai, vai até a cidade, encontra Teddy) repetindo-se várias vezes, com resultados diferentes. É uma boa introdução, mas deixa muito no ar.
O papel de Santoro, por exemplo, termina o capítulo como uma grande incógnita. Apesar de no papel Hector ser o bandido daquele cenário de faroeste, não dá pra saber de cara se ele bom ou mau — ou, de modo geral, quem são os vilões e os mocinhos (a figura do mal mais clara é Ed Harris). “Essa questão de quem é vilão e quem é mocinho é a grande pergunta da série. É isso que a gente vai mostrar. O Hector teria a embalagem, mas a gente vai muito mais fundo, as coisas vão começar a ser reveladas e aí a gente vai deixar pro espectador fazer sua própria escolha”, diz Santoro. Dá para entender os criadores, que controlam os robôs? Os visitantes que satisfazem seu apetite pela violência “matando” os robôs? Os robôs que se rebelam?
Para Santoro, a série — produzida por J.J. Abrams e Jonathan Nolan, corroteirista de “O Cavaleiro das Trevas” — é um estudo profundo sobre a natureza humana. “É uma série que trabalha muitas metáforas, muitas entrelinhas. Claro que o entretenimento está ali. Até porque no mundo de hoje, de tanto entretenimento e tão digital, a gente precisa disso pro espectador também se conectar. Mas ali vem muito alimento pro cérebro, eu acho.”
Um dos grandes atrativos para o projeto, o elenco de “Westworld” também foi motivo de nervosismo para Santoro, especialmente ao gravar uma cena sozinho com Ed Harris. “Na van começou a me dar um nervosismo, desconfortável, comecei a ficar ansioso, não tava gostando daquilo. Falei pra ele: ‘Olha, é uma honra e tal’. E ele: ‘Tá tranquilo’. E eu: ‘Tranquilo pra você, que é comigo. Pra mim não tá tranquilo, você é o freaking Ed Harris, tenho o maior respeito pelo seu trabalho, é uma cena grande só eu e você’”, conta. “É uma sensação de estar jogando com a seleção, mesmo. É outro lugar. É um lugar onde a bola vem e tem que voltar legal.”
No set, para relaxar, deitou-se numa cama que havia por ali, para tentar relaxar. Harris sentou-se ao seu lado. “Daqui a pouco ele bota a mão na minha bota. Aí ele falou uma frase, que não me lembro exatamente, mas era: ‘A gente vai fazer isso junto. Quando estiver bom a gente vai embora. Enquanto não estiver bom a gente fica aqui. Estou aqui contigo’. Aí ele levantou, a gente fez a cena e foram dois takes”, lembra Santoro. “O psicológico é uma coisa tão difícil de controlar, ainda mais quando a gente está ansioso. É tão sutil, mas aquelas palavras foram muito importantes, de companheirismo. Mostra que mesmo sendo um cara super reconhecido, é um artista, trabalhador. Sem muita firula também, não segurou na minha mão.” Foi a terceira vez que se sentiu assim intimidado na vida, conta Santoro. As outras vezes haviam sido com Benicio Del Toro, em “Che”, e Paulo Autran.
Anthony Hopkins foi outra história: logo de cara, chegou e quebrou o gelo. “Anthony vem e faz isso com todas as pessoas, vem e quebra. ‘Call me Tony.’ Olha bem no seu olho, te abraça, faz uma piada”, diz. “Almoça com todo o mundo, conta história, imita que é uma coisa. Fez uma imitação do Brando que a galera… Nossa, incrível. É um compositor, pinta, dirige. É uma lenda.” Preso à lista de tópicos autorizados, porém, Santoro não conta se chegou a contracenar com Hopkins ou se só cruzou com ele no set. “Aí você vai ter que assistir à série, não posso contar. Ele é o criador. Quando a criatura encontra o criador, coisas acontecem.”
Com tanto mistério por parte de Santoro e tendo visto apenas um episódio, bastante introdutório, dá só para prever quais serão as questões levantadas pela série para “alimentar o cérebro”, clássicas quando se fala de inteligência artificial e da relação de criador/criatura, desde os tempos de Frankenstein. Na estreia, Anthony Hopkins é uma presença bem coadjuvante, que deve ganhar importância. Sabe-se que ele é o grande cérebro por trás do parque e quer humanizar cada vez mais suas criaturas, acrescentando nelas uma espécie de memória, de subconsciente, que se reflete em gestos mais naturais baseados nas lembranças. Não sabemos, porém, quais são seus objetivos, sua verdadeira natureza ou o que sente pelas criaturas. “Westworld” também parece questionar o apetite pela violência: é moral matar uma figura que parece humana, ainda que seja uma máquina? Veremos o que a série tem a dizer.







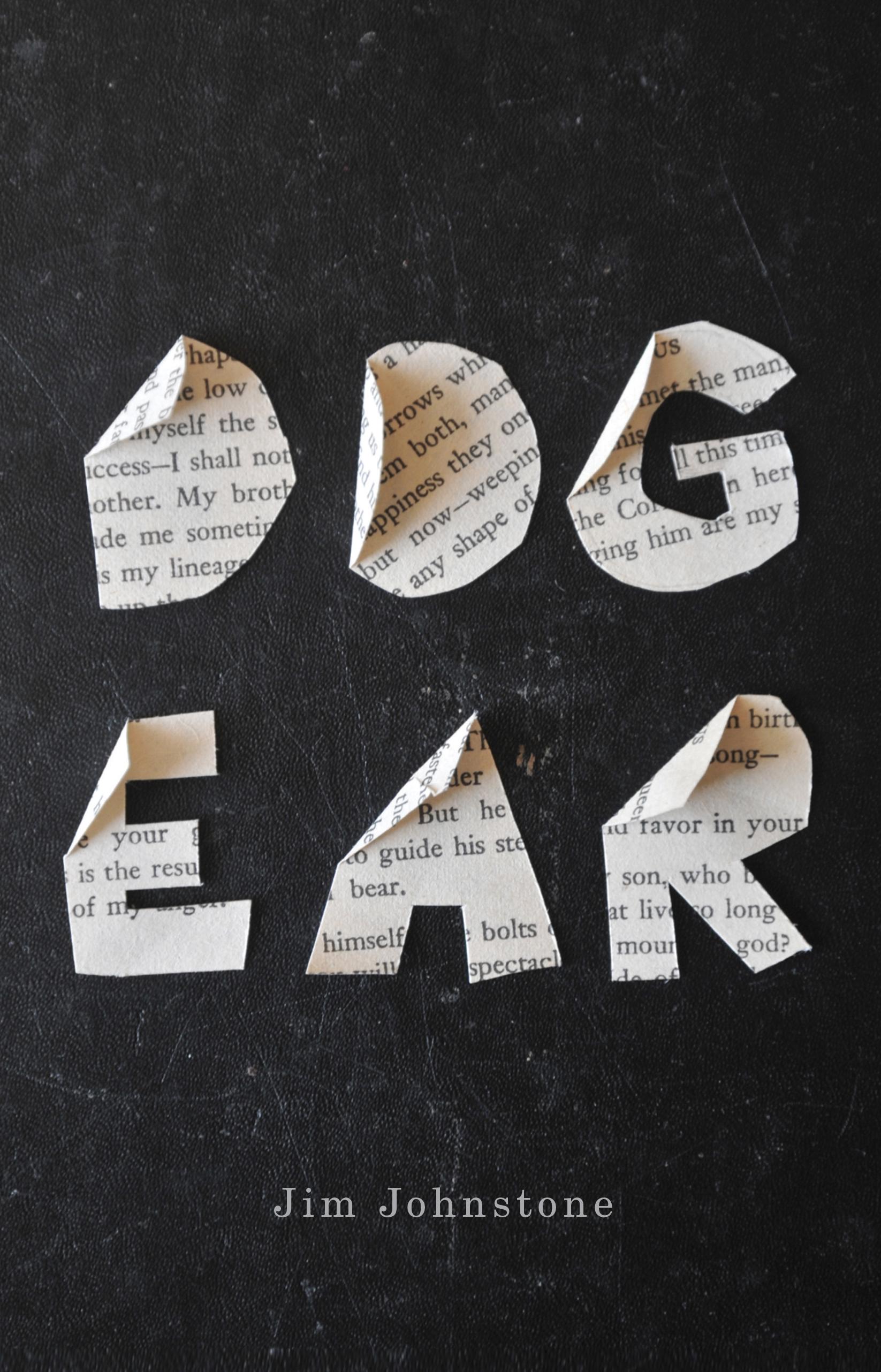

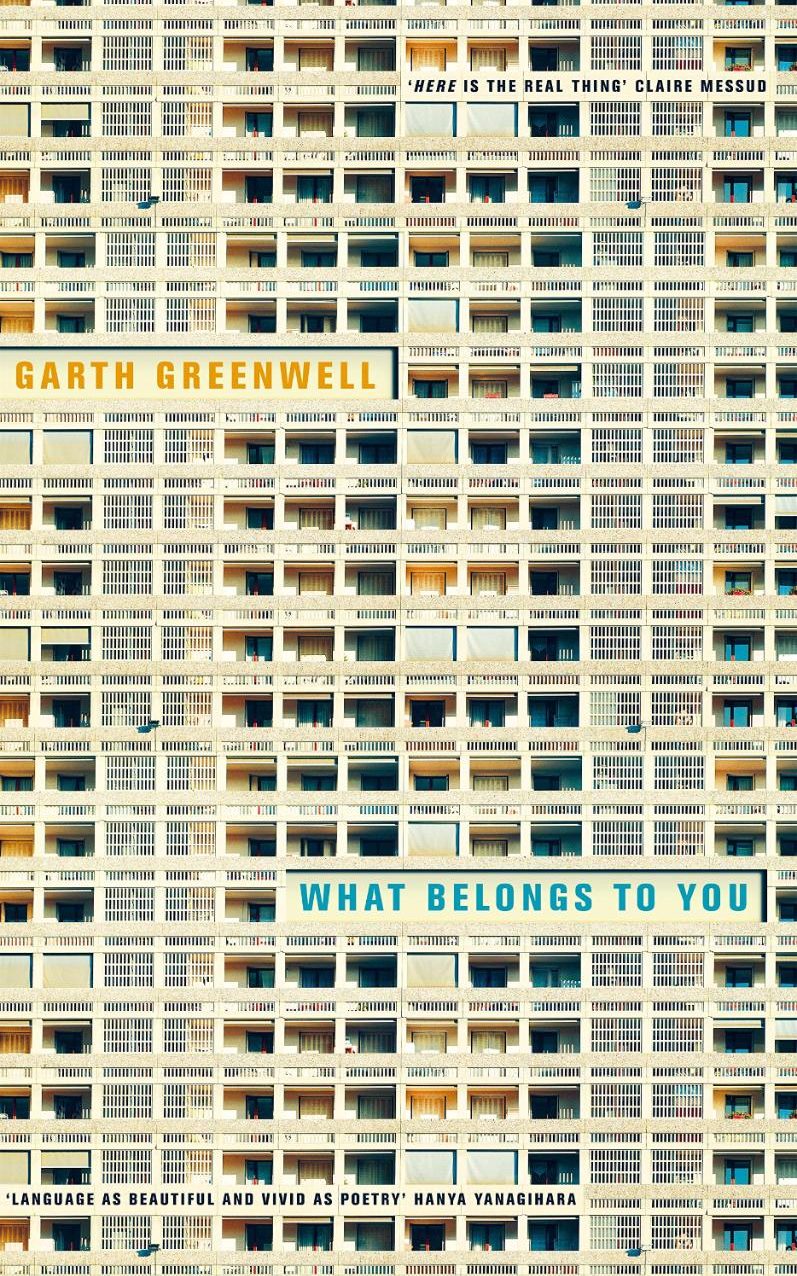
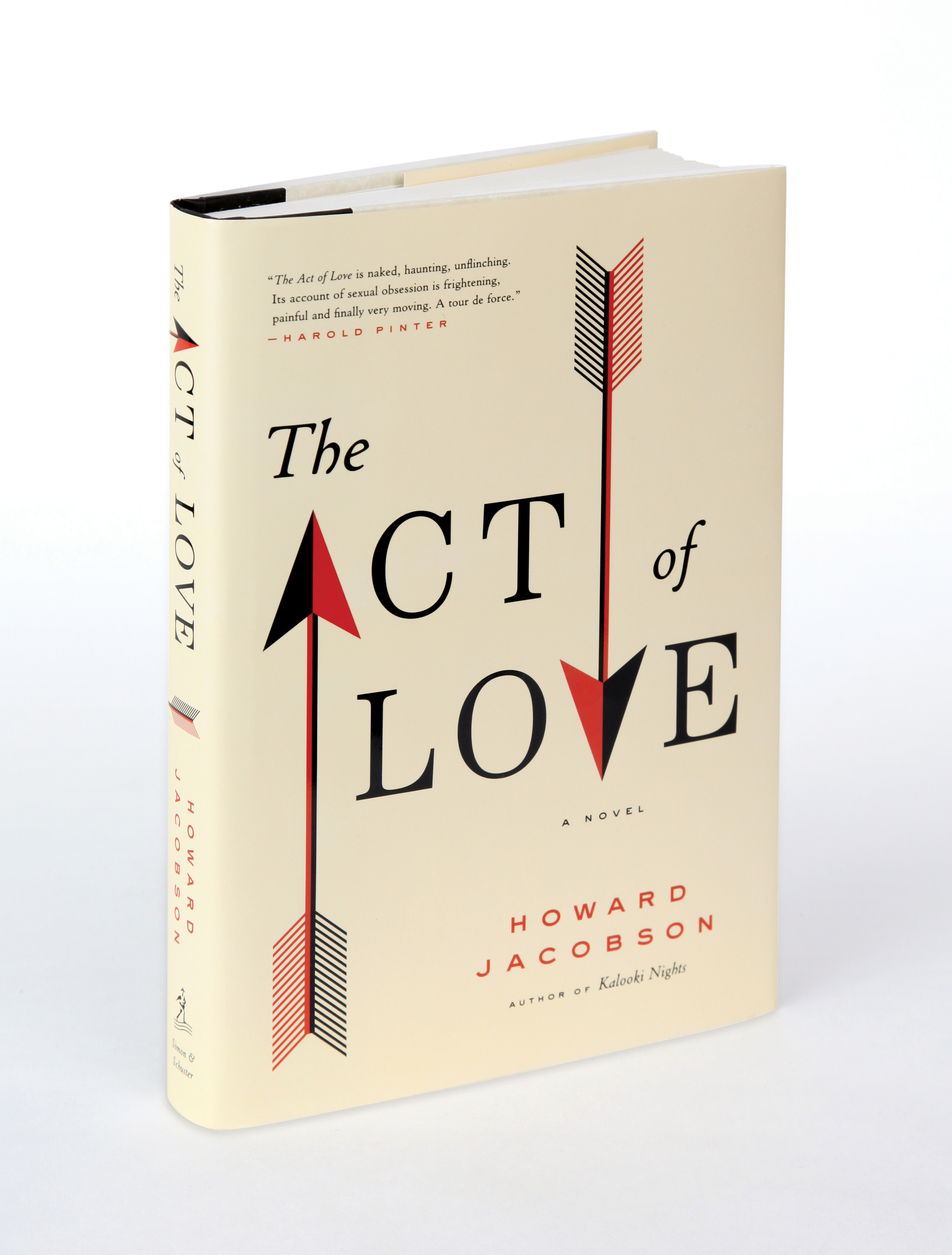






























 [/imagem_full]
[/imagem_full]