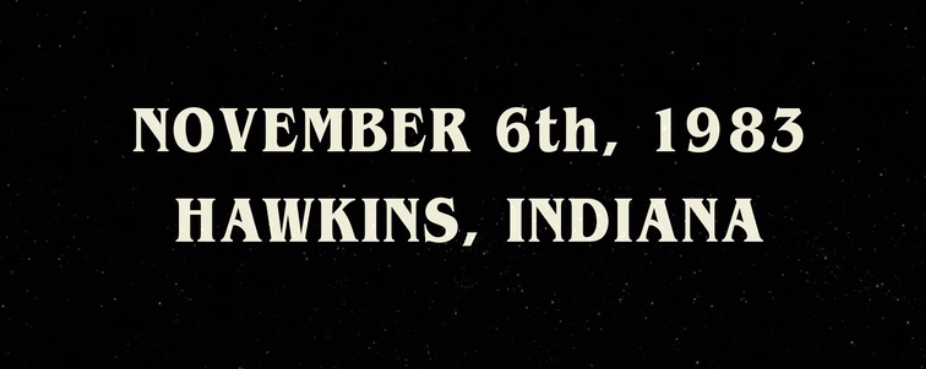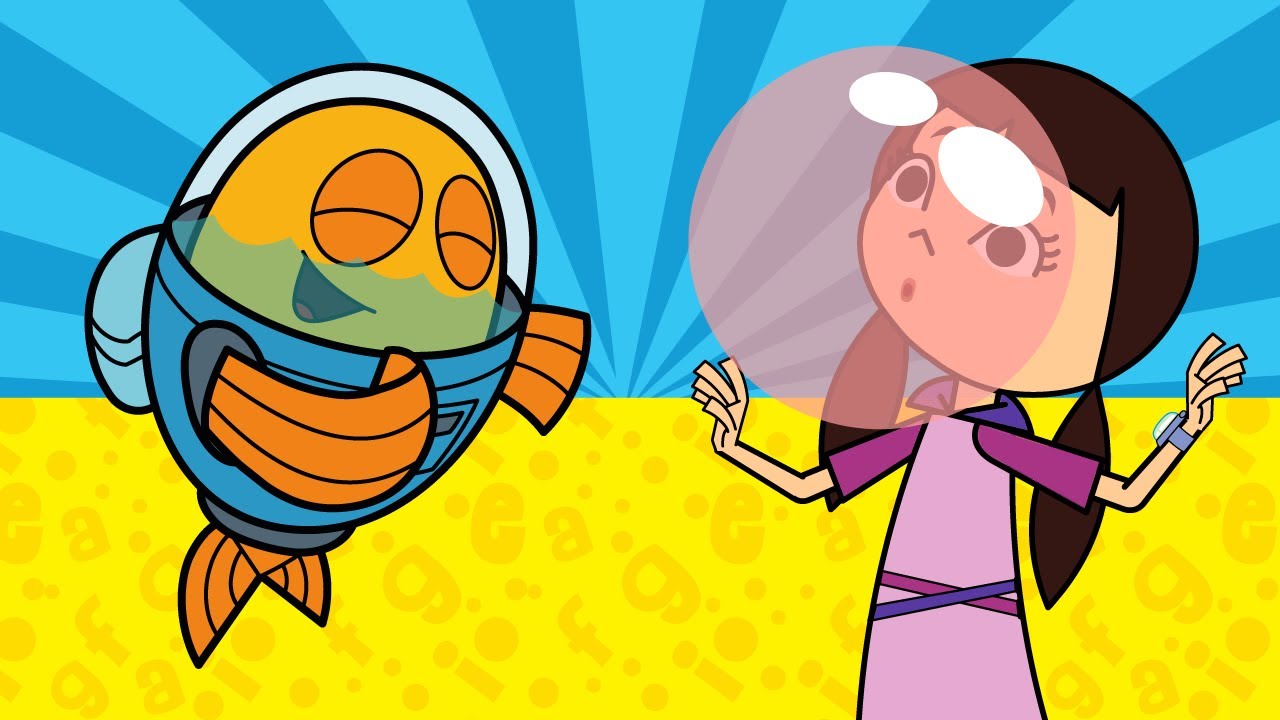Lançados todos de uma só vez, os episódios de séries do Netflix costumam ser perfeitos para serem vistos em uma ou duas sentadas. Não é o caso com “The Get Down”, que estreia na próxima sexta, dia 12. Talvez por isso sua primeira temporada tenha seis episódios lançados agora e mais seis a serem lançados no início do ano que vem: a produção de Baz Luhrmann é melhor consumida em pequenas doses. Como “Mad Men”, por exemplo, cujos capítulos tinham descrições excitantes como “Don conhece uma mulher, Peggy trabalha demais, Pete pega o trem”, “The Get Down” é uma série em que pouca coisa acontece de fato. O que importa é ver como elas acontecem.
Ambientada no fim dos anos 1970 no Bronx, no norte de Nova York, a série gira em torno de Ezekiel (Justice Smith), um adolescente com grande habilidade para as palavras e poucas perspectivas para o futuro. Sabemos de cara, porém, que ele ultrapassará as dificuldades e se tornará um rapper famoso, já que sua história começa a ser contada dos anos 1990, quando ele se lembra do passado nas músicas que canta em um grande show. Com uma hora e meia de duração — praticamente um filme — o primeiro episódio narra o início dessa guinada, quando Ezekiel conhece o grafiteiro e aspirante a DJ Shaolin Fantastic. É ele quem apresenta Ezekiel, até então fã de música disco, às festas nas quais o rap nasceu, com DJs fazendo a batida para os MCs colocarem as letras.
Poeta, Ezekiel logo encontra ali o seu lugar e começa a frequentar o incipiente circuito do hip-hop com os amigos — um deles interpretado por Jaden Smith. Além da música, Ezekiel se dedica à sua outra paixão, a amiga Mylene (Herizen Guardiola). Ela também quer ser cantora, mas de música disco, e sofre com a proibição do pai, pastor na igreja em que ela canta. Mylene é responsável pela maior parte dos momentos musicais da série, embalando a história de Ezekiel com a sua voz. A trilha sonora, como dá para imaginar pela sinopse, é excelente e os protagonistas são talentosos — um dos melhores momentos dos três primeiros episódios que assistimos é quando Ezekiel recita pela primeira vez um poema sobre sua vida, com a cadência de um rapper, para uma professora na escola. Nesse um minuto em que ele conta sua história em verso você sente que quer acompanhá-lo até o fim.
Histórias sobre a música nos anos 1970 não são raridades — só neste ano Martin Scorsese lançou sua “Vinyl”, sobre o rock. Mas “The Get Down” tem uma vantagem sobre a já cancelada série da HBO: histórias de rock — e sobre homens brancos e suas ideias super revolucionárias — há muitas. Sobre o rap (e a música disco, em menor grau), não. O australiano Luhrmann, tanto pela origem quanto pelo estilo, parece uma escolha estranha para retratar a origem do hip-hop e a realidade do Bronx em 1977, e, é divertido imaginar o que sairia numa série dessas nas mãos de Spike Lee. O retrato de Luhrmann é mais ensolarado e fantasioso do que realista — há drogas, gangues e violência, mas tudo contado de uma forma razoavelmente leve e bem pop. Embora seja menos excessivo e estilizado — menos “Luhrmann” — que “Romeu + Julieta” ou “O Grande Gatsby”, “The Get Down” é claramente uma produção do diretor, com momentos de cantoria estilo “Glee”, grandes números de dança, alguns personagens mais para o lado da caricatura e um pé no surrealismo. Para Luhrmann, o rap é compromisso, mas também pode ser um pouco viagem.
Colocar a forma à frente do conteúdo às vezes faz com que seja fácil se distrair no meio de uma cena e torna ir ao banheiro no meio do episódio uma decisão relativamente simples. Às vezes a história não sai muito do lugar, às vezes ela quer estar em muitos lugares ao mesmo tempo — além de Ezekiel, Shaolin e Mylene, os protagonistas, há o núcleo da tia de Ezekiel, sua professora que o incentiva, uma gângster poderosa e seu filho dono de boate, o DJ que ensina Shaolin, os amigos de Ezekiel, as amigas de Mylene, os pais de garota, seu tio, que é um político influente. Nenhum desses personagens ganha espaço suficiente para que a gente se interesse por eles — de memória, é difícil citar o nome de mais de dois coadjuvantes.
[imagem_full] [/imagem_full]
[/imagem_full]
“The Get Down” é a série mais cara já produzida pelo Netflix (foram US$ 120 milhões nessa primeira temporada). Isso ajuda a explicar como ela é ambiciosa e quer ser muita coisa: parte comédia romântica, parte drama, parte série de ação, parte musical e inclui até algumas cenas documentais aqui e ali, sem muita conexão com o resto. Pode não ser a série mais empolgante, que te faz querer ver um episódio atrás do outro, mas “The Get Down” é cheia de bons momentos, principalmente quando fica mais focada e se volta para Ezekiel e Mylene. Ele é um personagem pelo qual você tem prazer em torcer, tão talentoso quanto vulnerável — a performance de Justice Smith é excelente e, ainda que ele apareça pouco na fase adulta, ajuda o fato de ser interpretado por Daveed Diggs, vencedor de um prêmio Tony neste ano por “Hamilton”. Já Mylene poderia ser a mocinha sofredora clássica que tem os sonhos destruídos pelo pai autoritário, mas é muito mais complexa que isso.
É, também, uma série bem bonita de se ver. Luhrmann pode não ser especialista em hip-hop (apesar de contar com a consultoria de Nas e Grandmaster Flash, duas lendas do rap, ambos produtores da série), mas é o diretor de “Moulin Rouge”: ou seja, sequências de canto e dança são parte de suas especialidades. Com poucos episódios vistos, a sensação que “The Get Down” deixa é de que não há urgência para terminar a série, não há grandes mistérios que vão te atormentar ou deixar a internet em polvorosa (tal qual “Stranger Things”, último grande lançamento do Netflix) — embora o ritmo melhore gradativamente. Segundo classificação do próprio Netflix, há séries para devorar e para degustar, e é bom que haja oferta dos dois tipos. “The Get Down” se encaixa, com certeza, na segunda categoria e, apesar de ter um começo um pouco confuso, tem qualidades o suficiente para valer uma tentativa.