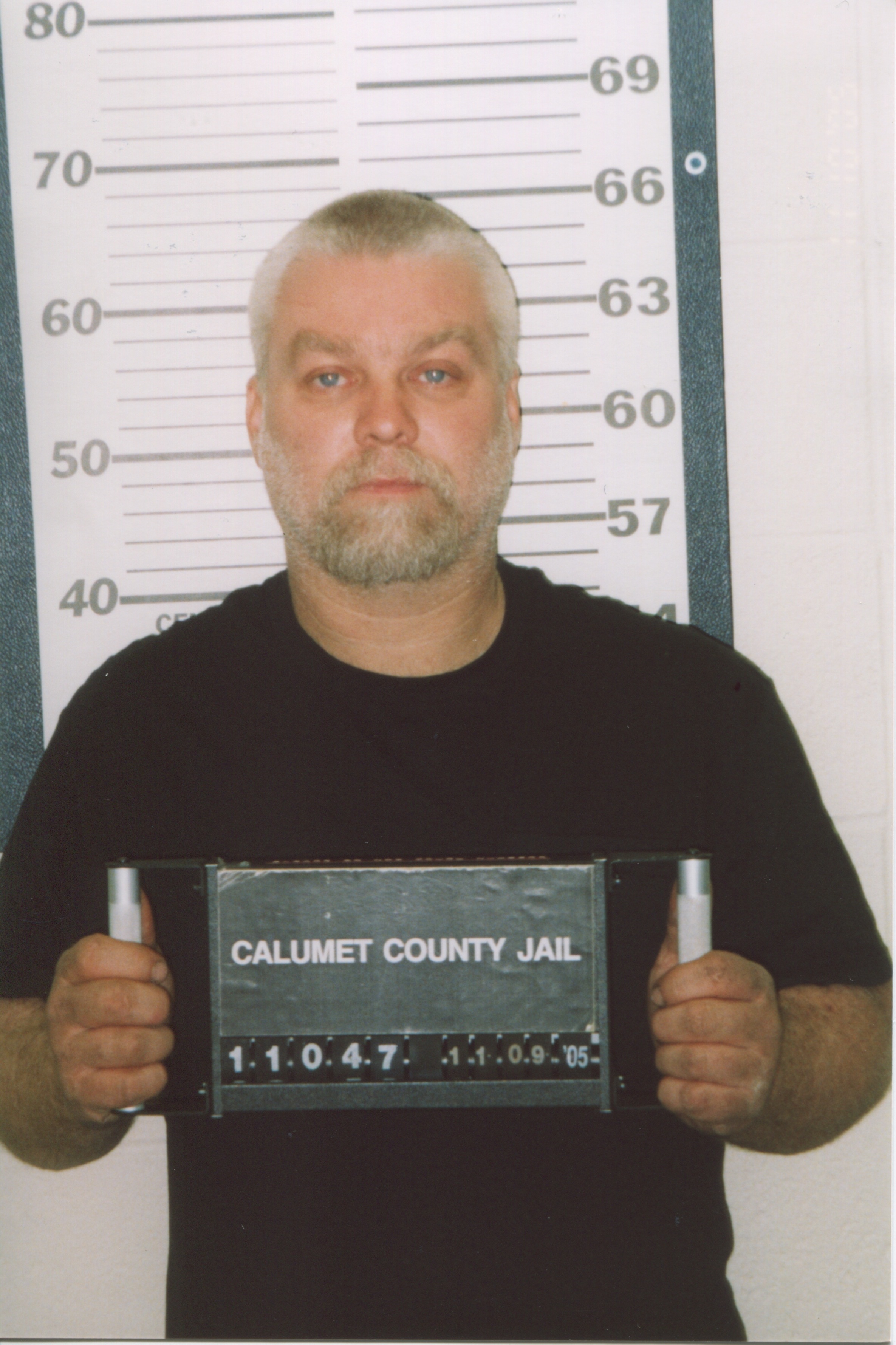Para quem entrou na adolescência vendo “Dawson’s Creek” ou “The O.C”, do fim dos anos 1990 ao meio dos anos 2000, o futuro parecia relativamente simples: namorar na escola, fazer a faculdade dos sonhos, arrumar um bom emprego e um apartamento grande, casar com o amor da adolescência, ter filhos e pronto. Mas a vida não costuma ser assim tão simples, e as séries que retratam o período dos 20 e poucos aos 30 e tantos anos dessa mesma geração mostram um desfecho um pouco diferente. Entre “Girls” e “You’re the Worst” o que povoa a televisão hoje são os relacionamentos tóxicos, a falta de dinheiro, os sub-empregos ou o desemprego, as noites cheias de álcool e péssimas decisões.
“Love”, série produzida por Judd Apatow que estreou no Netflix na última sexta, é mais uma história nessa linha. Não se trata de nenhuma grande novidade, e sim de um filhote de “Girls”, que também tem Apatow como produtor-executivo. É uma série feita para um público bem específico, nascido entre os anos 1980 e 1990, sobre um grupo que está melhor de vida que muita gente, mas se sente completamente perdido. Como “Girls”, é cheia de personagens que beiram o detestável e situações constrangedoras, mas que, de alguma forma, dão um alento a quem também tem encontros micados, um emprego mais ou menos, e não está onde pensou que estaria por volta dos 30 anos. Por que eles são (provavelmente) mais problemáticos que você.
Na série, Mickey (Gillian Jacobs, a Mimi-Rose de “Girls”) tem um namoro que vai mal com um homem que precisa que a mãe o leve ao shopping para comprar roupas. No trabalho, num programa de rádio, é assediada pelo chefe e acha que vai ser demitida se não sair com ele. Gus (Paul Rust) não tem um relacionamento muito melhor: a namorada, que não o deixa nem escolher a cor do tapete da casa, reclama que ele fala “eu te amo” demais e diz que o traiu. Ele sonha em ser roteirista, mas trabalha num programa de TV como tutor de sua estrela-mirim, uma pequena diva que tem que passar numa prova para que ele mantenha o emprego. Os dois se encontram numa loja de conveniência, quando ela, sem carteira, entra numa briga com um funcionário por um copo de café e ele paga a bebida (e um cigarro) para ela.
[imagem_full]

[/imagem_full]
Diferente dos anos 1990 e 2000, quando as comédias românticas eram doces e idealizadas, as séries do gênero hoje em dia costumam optar pela abordagem “real”. Seus personagens têm vícios e defeitos, os relacionamentos demoram para se desenvolver, são cheios de idas e vindas, ciladas e momentos tão constrangedores que é difícil de olhar. Em “Love”, no primeiro capítulo, depois de uma discussão com a ex-namorada, Gus joga pela janela do carro todos os seus blu-rays enquanto culpa comédias românticas como “Uma Linda Mulher” por fazê-lo acreditar que o amor podia ser assim fácil. Uma prostituta e um homem rico nunca dariam certo, ele diz.
Essas comédias românticas que Gus despreza, como “Um Lugar Chamado Notting Hill” ou “Mensagem para Você”, são um retrato do que a sua vida provavelmente nunca será, mas seria legal se fosse. É reconfortante ver aquelas pessoas se apaixonando, o livreiro conquistando a estrela de cinema ou os dois inimigos unidos pela internet. A vida poderia ser assim. Com “Girls” ou “Love” — menos “reais” do que almejam ser, nem todo o mundo é narcisista e destrutivo desse jeito –, é o contrário, a sensação de assistir àquilo só conforta como antiexemplo. Pelo menos sua vida é melhor que isso, não?
No caso de “Girls”, é melhor que a protagonista Hannah (Lena Dunham) termine sem Adam (Adam Driver), já que eles não fazem bem um para o outro. Em “Love” é a mesma coisa e seria mais saudável que Mickey e Gus fossem só amigos. É ele quem se interessa primeiro por ela, que só resolve dar uma chance porque sua vida está péssima e ela acha que um “cara legal” é a solução para os seus problemas, o que não é o caso — até porque Gus está longe de ser perfeito. Juntos, é difícil de darem certo. E são as partes em que os dois estão separados, em que eles têm de lidar com seus próprios problemas, que são mais interessantes.
Mesmo sem grandes novidades, “Love” tem seus bons momentos. A amiga australiana de Mickey, Bertie (Claudia O’Doherty), é genuinamente uma boa pessoa e bastante engraçada, uma das poucas personagens ali por quem dá pra torcer. Seu jantar com Gus, arranjado por Mickey antes de ela aceitar o fato de que Gus gosta dela, é exibido quase em tempo real e é desastroso na medida certa, sem que a vergonha alheia tome conta do espectador. Quem gosta de “Girls” provavelmente vai se sentir acolhido com “Love”. Mas para ver uma comédia romântica mais original e mais real o próprio Netflix tem uma opção melhor: “Master of None”, que estreou em novembro do ano passado. Ali a vida amorosa do protagonista é mais próxima da realidade: nem perfeita, nem tão tóxica. E mostra que nem todo final precisa de um “felizes para sempre” para ser feliz.