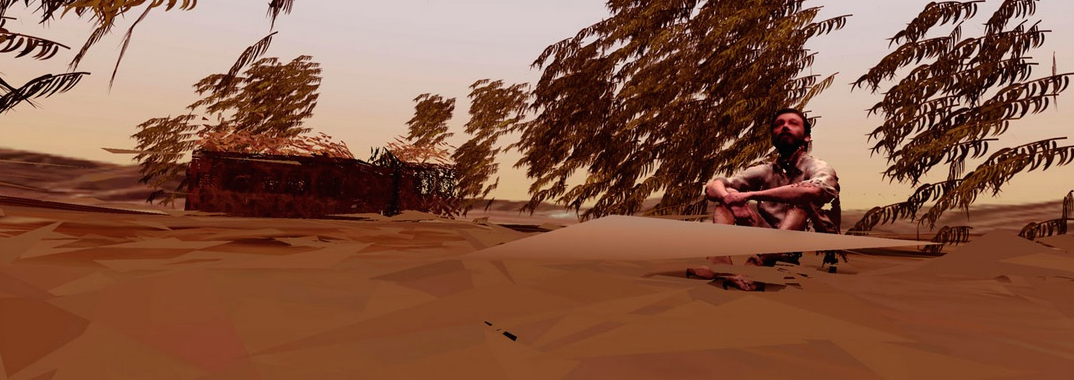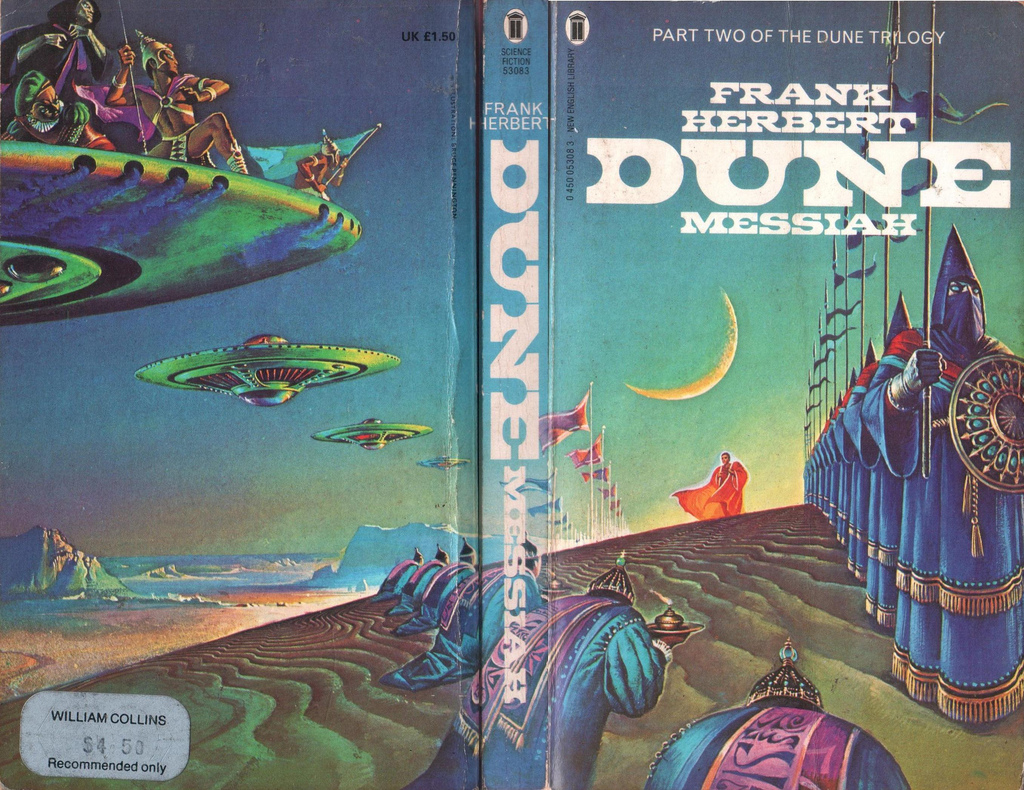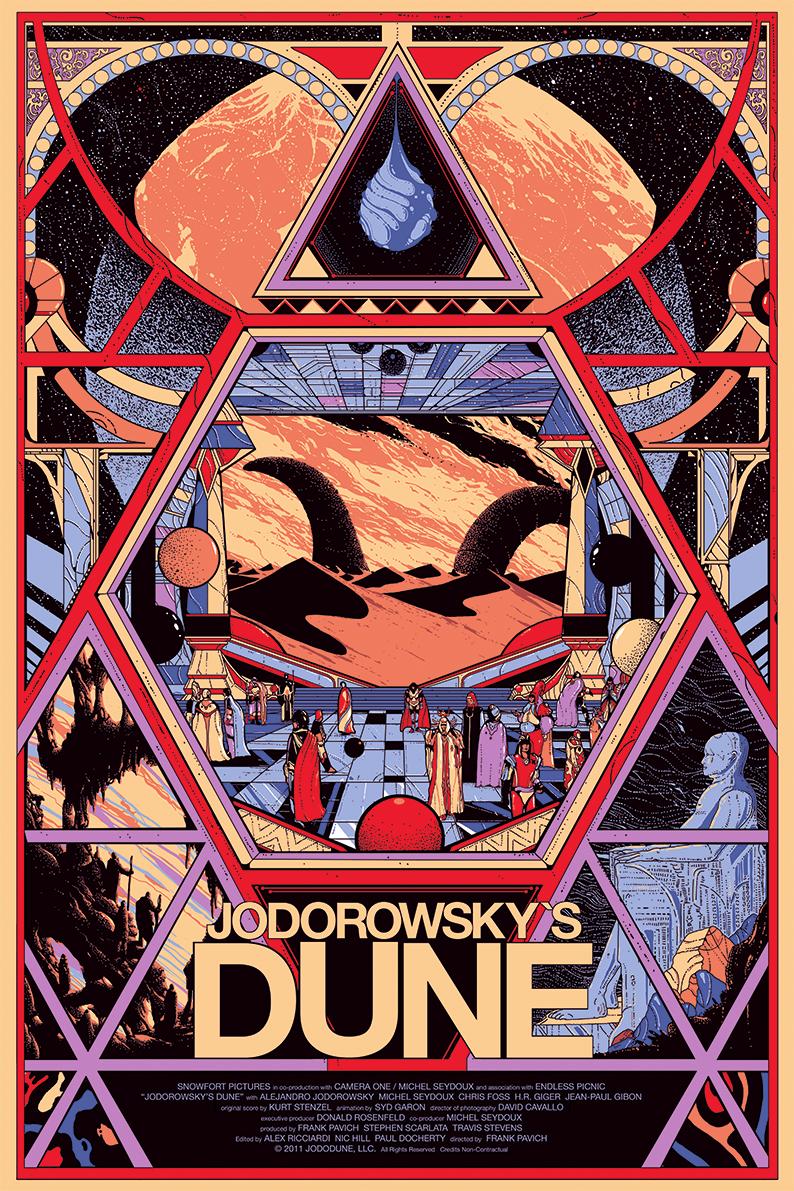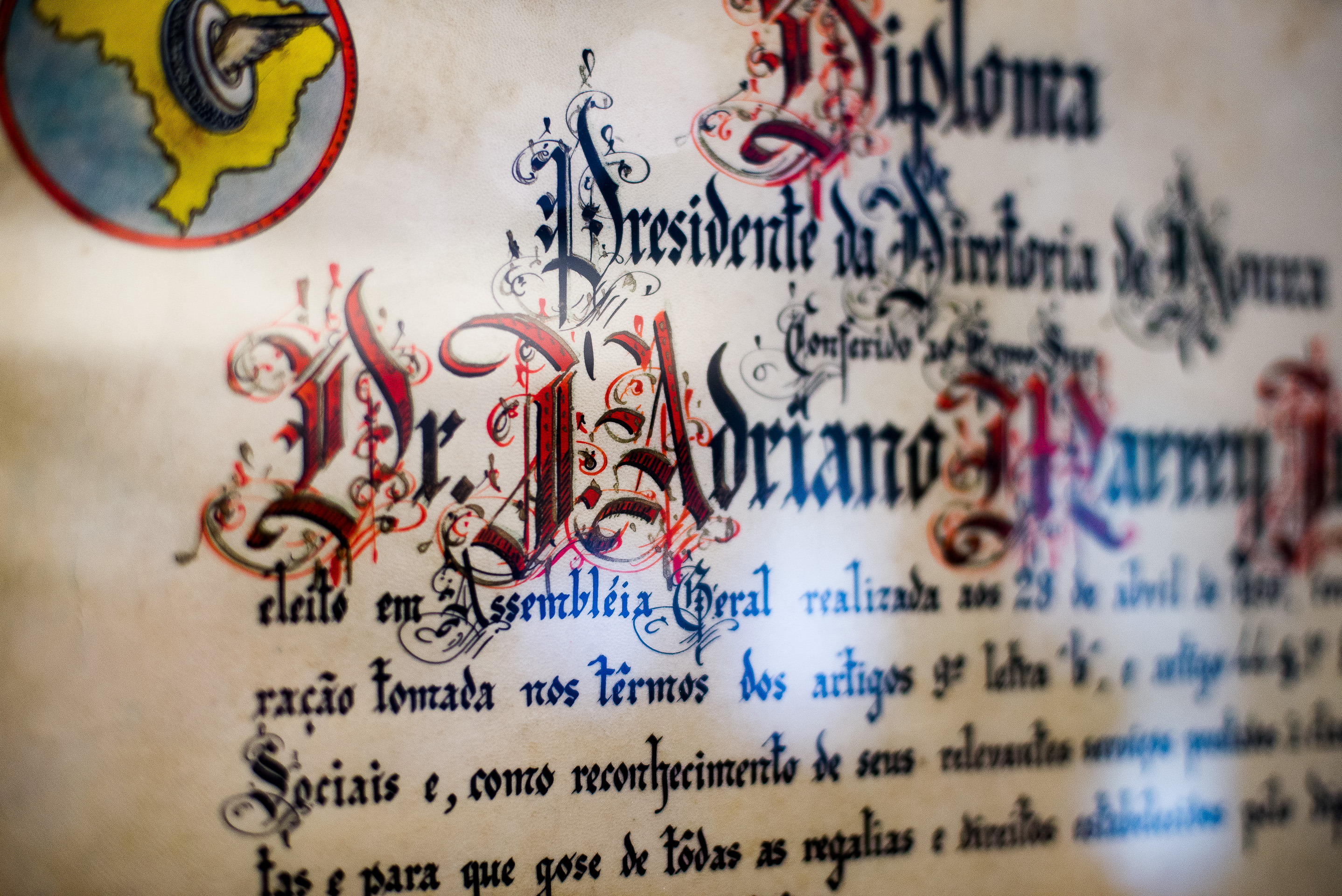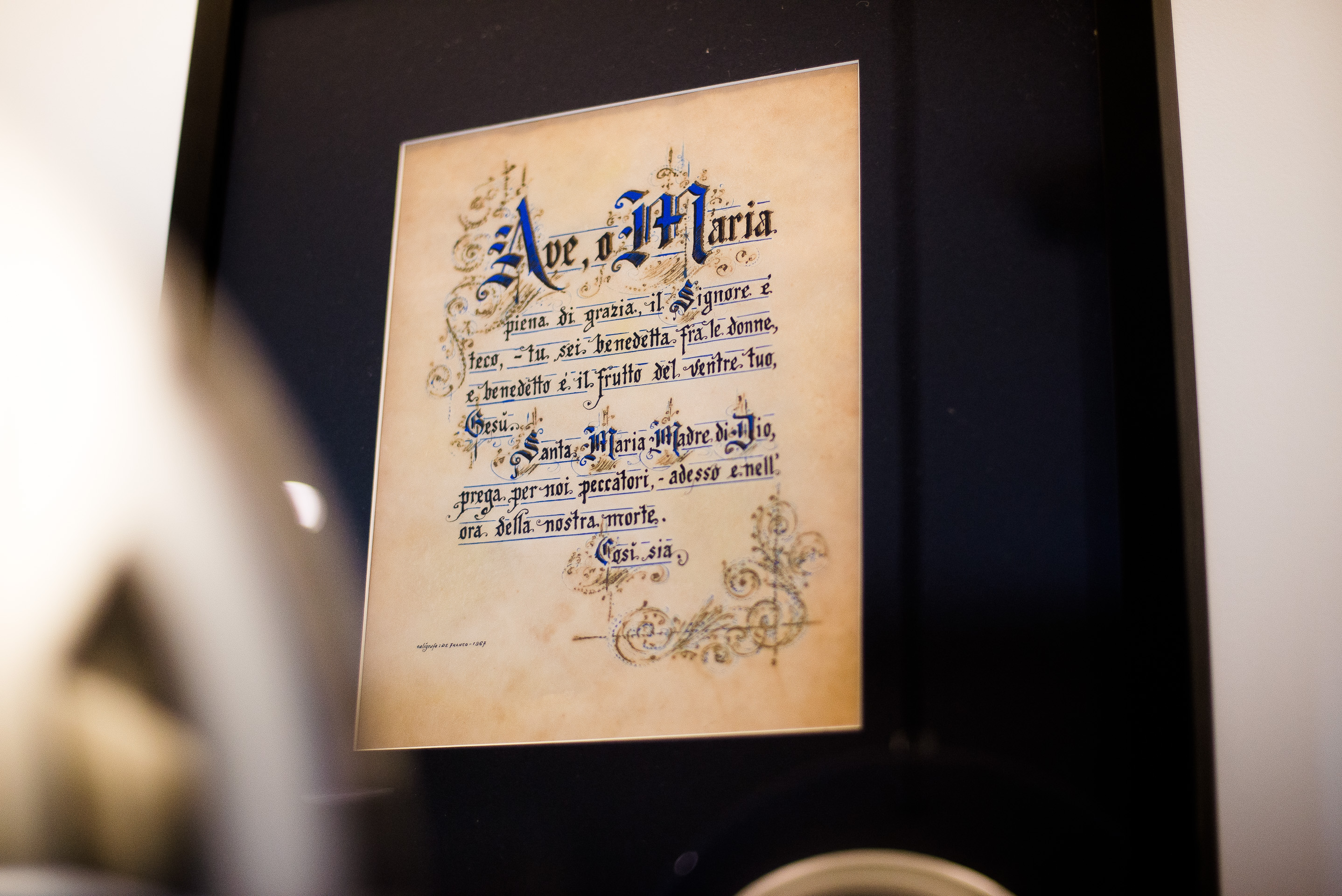Bob comemora seu aniversário de dois anos numa tarde de domingo nos Jardins, em São Paulo. Para driblar o calor de mais de 30 graus, serve aos convidados — emperiquitados com lacinhos, lenços coloridos e vestidos de bailarina — picolés de cenoura ou maçã com banana. A festa está cheia, mas Bob brinca sozinho desde que um amigo grandão e levemente invocado rosnou e lhe mostrou os dentes. Um detalhe importante: Bob é um cachorro, assim como a maioria de seus convidados.
É uma festa inusitada e, em alguns momentos, surreal. “Esse brigadeiro é pra gente, não pra cachorro, tá?”, esclarece uma vendedora de doces. A explicação é necessária, já que a maior parte das barraquinhas da festa tem animais como público-alvo. Shampoo, condicionador, roupinhas, biscoitos, cerveja (sem álcool e sem gás) e uma mesa de quitutes formam do cardápio de produtos para cachorros.
“Esse é o Bob?”, pergunta uma mulher ao chegar, com seu cachorro na coleira, para o dono de um dos vários golden retrievers — raça do aniversariante — por ali. “Não, esse é o Bowie”, responde ele, chamando o cachorro que brinca com Lennon e Elvis (“Só cantores aqui!”, comenta uma moça, empolgada) e, minutos depois, devora um picolé canino com palito e tudo. Quase ninguém ali conhece o dono da festa pessoalmente, mas mesmo assim dezenas de pessoas pagaram R$ 22 por cabeça (com direito a dois cachorros por convite), para lhe dar parabéns e entregar presentes.

Bob, é bom explicar, não é só um cachorro. É um cachorro celebridade no Instagram, com mais de 210 mil seguidores. Boa parte dos outros cães na festa, aliás, tem seus próprios perfis nas redes sociais. Para facilitar a vida dos convidados, quase todos os goldens usavam bandanas com seu nome. Uma busca pelo nome do animal com a palavra golden no Google revela todos os perfis: Chandon (6.155 seguidores), Mell e Reiki (21,7 mil), Hanna (5.035), Google (15,8 mil), Marley (15,3 mil) e por aí vai. Todos admiradores de Bob, o mais bem-sucedido da turma.
O cachorro ganhou fama posando com um hamster e passarinhos que vivem em sua casa. Suas fotos fofas chamaram a atenção de sites como Buzzfeed, Daily Mail, USA Today e Huffington Post em países como Itália, Estados Unidos, e Inglaterra. As matérias lá fora ajudaram a catapultar o número de fãs. Em junho, Bob tinha perto de 50 mil seguidores. No mês seguinte, passou a barreira dos 100 mil. Pouco tempo depois, passou dos 200 mil.
Em julho, fez sua primeira festa. Por R$ 50 (R$ 20 consumíveis) era possível levar um cão para brincar, participar de um concurso de fantasia, “degustar comidinhas pets”, concorrer a prêmios e conhecer Bob pessoalmente. Segundo seu dono, Luiz Higa Júnior, havia mais gente na festa julina do que no aniversário. E mesmo na comemoração dos dois anos de Bob o espaço estava bem cheio. Todas as tentativas de contar o número de cachorros presentes, porém, falharam (experimente contar uma matilha de golden retrievers correndo um atrás do outro).

Bob tem também um lado empresário: é parceiro de algumas lojas de produtos para cachorro, que anuncia em seu perfil. Entrando no site das lojas e usando um cupom Bob (só escrever o nome do cão no campo de promoções) há um desconto em produtos. Em contrapartida, as lojas às vezes aparecem no perfil do cachorro e expunham no seu aniversário. A tal cerveja canina é um exemplo. “O esquenta aqui em casa foi dos bons!!!! E… Estamos bêbassos”, diz o post em que o cão aparece ao lado da garrafa. O perfil ainda dá dicas de hotéis para cachorro, marcas de ração e restaurantes e padarias que recebem animais.
A figura “Bob Golden Retriever” nasceu meio por acaso. O Luiz participava de um grupo de fãs de golden no Facebook, em que todos postavam fotos de seus cachorros, e começou a fazer o mesmo. “Já tinha os passarinhos, comecei a soltar e colocar para tirar fotos juntos. Todo o mundo gostava. Pra não ficar muito maçante, todo o dia postando foto dele lá, resolvi criar um perfil no Instagram”, conta. “Estou numa época agora meio sem tempo, por causa do trabalho. Não estou conseguindo fazer tantas fotos. Mas tento atualizar todo dia, com pelo menos uma.”

CICLO SEM FIM
O aniversário de Bob é um reflexo de como funciona o mundo dos perfis de animais no Instagram. Escolha um ao acaso. Leia os comentários. Clique em algum deles. A probabilidade de ser outro perfil de animal é alta, já que muitos se conhecem e interagem com os outros. Repita o procedimento. É um ciclo sem fim.
No meio dessa multidão, alguns se destacam e chegam ao status de super celebridade. É o caso da cadelinha americana Marnie, que tem a cabeça virada para o lado, a língua de fora, 1,7 milhão de fãs no Instagram e mais fotos com famosos do que a Kim Kardashian (Lena Dunham, Tina Fey, James Franco e Miley Cyrus já posaram com ela). Um de seus “amigos” é o Tuna, cão retrognata — que tem a mandíbula retraída — seguido por 1,5 milhão de perfis. É uma versão em escala maior do que acontece no Brasil, com animais posando no perfil um do outro e “conversando” pelas redes sociais como se fossem gente.

O próprio Instagram fez, no ano passado, um calendário de 2015 só com imagens de seus perfis de animais. E, para os donos, os bichos podem ser uma mina de ouro. Neste mês, a designer gráfica Leslie Mosier publicou um texto no Huffington Post dizendo que tinha largado o emprego para ser empresária de seu pug, Doug, que tem 716 mil seguidores no Instagram.
Leslie comprou Doug em 2012 e começou a publicar fotos dele em seu próprio perfil. Logo percebeu que as imagens do cachorro eram mais curtidas que as outras e passou a investir nele: fez montagens, deu várias fantasias, caprichou nas legendas. As fotos de Doug passaram a ser compartilhadas por outros perfis de cachorro e ela aproveitou o embalo para criar uma conta própria para o cão.
Em pouco tempo Doug ganhou a mídia. Primeiro apareceu no site Mashable, depois em uma série de outros, até chegar à televisão americana. Um vídeo que fez numa festa para comemorar a marca de 100 mil seguidores estourou e teve mais de 20 milhões de visualizações. Foi aí que Leslie decidiu fazer do cachorro seu ganha-pão. “Por mais que tenha sido uma decisão dura, não foi difícil perceber que construir a marca Doug the Pug era uma oportunidade única na vida”, escreveu Leslie. “Com o apoio dos meus pais e amigos, tomei uma das decisões mais difíceis e mais gratificantes da vida, abrindo mão da segurança de um salário mensal.”
As publicitárias Amanda Nori e Stéfany Guimarães seguiram o mesmo caminho, segundo contaram à Folha — tentamos falar com elas mais de uma vez para fazer uma entrevista, sem retorno. Donas do gato Chico, montaram a página Cansei de Ser Gato (342 mil fãs no Facebook e 115 mil no Instagram), com imagens de um felino blasé encarnando vários personagens.
Devido ao sucesso do gato, pediram demissão de seus empregos. Desde então, Chico já protagonizou mais de 70 campanhas publicitárias. Fora isso, as duas abriram uma loja virtual com fantasias para gatos, roupas para seus donos e objetos como almofadas e canecas. Fizeram também um livro com fotos do animal e planejam outro: uma biografia. “Chico é um influenciador da internet”, disse Stéfany ao jornal.
OS VÁRIOS PORQUINHOS
Nem só de “dog people” e “cat people” vive o Instagram. Outro animal tão popular quanto cães e gatos é o porco (confissão: eu mesma sigo quatro perfis). No Brasil, o mais célebre é Jamon (361 mil curtidas no Facebook e 58,8 mil no Instagram), da publicitária Dea Mendes. O porquinho foi seu presente de Dia dos Namorados em 2013. Ela queria um animal que vivesse mais que um cachorro, mas que agisse mais ou menos como um deles e pudesse ser criado em casa.
Segundo a Dea, o porco — que mais tarde ganhou um companheiro, Nero — é pacato, esperto e carinhoso. “Os dois até adotaram dois gatos da rua, que dormem na casa com eles. Meu marido tem certeza que eu adotei, mãs não foi!”, ela conta. Tamanha simpatia fez com que Dea postasse sem parar fotos de seu porco em seus próprios perfis. “Parecia mãe de primeira viagem. Vi o quanto às vezes aquilo me irritava nos outros, então poderia (e devia) estar irritando meus amigos.” Fez, então, um perfil para Jamon, entre junho e julho de 2013.

Poucos meses depois, em setembro, o perfil oficial do Instagram recomendou Jamon como um animal a ser curtido e lhe deu a hashtag #weeklyfluff (algo como o fofinho da semana). “Era a primeira vez que um ‘pig’ figurava na sugestão semanal deles”, conta Dea. “Chegamos a sair na [revista] ‘Wired’ para contar quem estava por trás do Jamon. Foi uma conquista incrível.” A partir da recomendação do Instagram o número de seguidores cresceu, assim como o espaço na mídia, que gerou mais seguidores, que gerou mais espaço na mídia… E por aí foi.
As fotos de Jamon são, basicamente, fofas. O porco veste chapéu de pirata, sai do banho enrolado numa toalha, tem roupinhas personalizadas e fica uma graça de peruca. Antecipando a popularidade suína em 2010, o personagem da série “How I Met Your Mother” Barney Stinson (também nome de um cachorro no Instagram, vale ressaltar) cravou: é impossível não se derreter por um miniporco.
UM CÃO CHAMADO JIMMY
O animal brasileiro mais interessante do Instagram, possivelmente, é o mais diferente do grupo: o bull terrier Jimmy Choo. Suas fotos não estão expostas num perfil próprio, e sim no do seu dono, o artista Rafael Mantesso. Muitas vezes não há legendas, ele não “conversa” com outros cachorros e, embora Jimmy seja bonito, sua fofura no dia a dia não é o principal atrativo das imagens.
Nas fotos tiradas pelo Rafael, o Jimmy aparece sempre num fundo branco, quase sempre interagindo com desenhos do dono. Tem Jimmy num tapete voador, sendo engolido por um jacaré, mostrando a língua ao lado do Calvin e do Haroldo. De vez em quando há objetos envolvidos, e é surpreendente como o cachorro é tão calmo quanto expressivo. Questionado sobre como fez para tirar uma foto em que Jimmy aparece de toalha enrolada na cabeça e uma rodela de pepino sobre o olho, Rafael responde como se fosse óbvio (quem tem cachorro sabe: não é): “Coloquei a toalha na cabeça dele, um pepino no olho, e cliquei”.
Jimmy foi comprado em 2009, quando o Rafael se casou. Ele queria um bull terrier, ela topou. Foram a um canil e a criadora tentou convencê-los a levar um macho mais forte, maior. Rafael quis Jimmy, o branquinho que foi brincar com ele assim que tinha chegado. Todos os filhotes tinham nome de um X-Men. “Ele ganhou o pior possível, o X-Men mais desconhecido: Fortão”, conta Rafael. “Óbvio que minha ex-mulher não gostou. Ela já tinha na cabeça o nome da marca de sapatos de que ela mais gostava. Ela era estudante de moda e oriental, por isso o apreço pela Jimmy Choo.” O destino cool do cão (chamado, no pedigree, de Jimmy Choo Fortão Di Maredella — o último nome é o do canil) estava mais ou menos traçado.

Rafael começou seu instagram como um canal de um blog de gastronomia que tinha na época. Postava principalmente desenhos e brincadeiras que fazia com comida e brinquedos, mas as pessoas não acreditavam que o conteúdo era dele. “Achavam que era montagem ou coisa que eu pegava da internet. Daí vez ou outra eu postava fotos do meu cachorro pra mostrar que aquele perfil era de um cara de verdade.”
Quando se separou da mulher, ficou com o apartamento, vazio, e o cachorro. “Decidi não morar mais lá, mas até vender o apartamento eu não queria comprar móveis”, diz. “Não teria móveis, mas teria telas e desenhos. Teria vida e teria a minha cara.” Começou fazendo fotos do cachorro em poses mais básicas, entre suas pernas ou vestindo suas botas. “Um dia comprei uma lixeira e desenhei um esqueleto na caixa. Coloquei o Jimmy atrás e fotografei, como se fosse um raio-x dele. A ideia nasceu aí. Ia desenhar nas minhas paredes e no meu chão e fotografar com o Jimmy do lado ou em frente.”
Cada foto tem uma história, diz. Às vezes desenha o cenário antes e coloca o cachorro nele só na hora de tirar a foto, às vezes desenha depois. O cão topa tudo. “O Jimmy é especial. Ele fica exatamente na posição que eu quero, pelo tempo que eu precisar”, afirma. “Ele sabe que eu preciso dele naquela posição e que não vou desrespeitá-lo, não vou constrangê-lo, não vou fazer nada de ruim com ele. Ele sabe que é importante pra mim e simplesmente fica.”
Há um ano Jimmy ficou famoso internacionalmente. “Em uma semana os principais portais e veículos do mundo todo descobriram meu Instagram e postaram a respeito. Passei de 20 mil seguidores para 100 mil em duas semanas. Daí em diante não parou mais. É meio orgânico. Uma pessoa segue, marca um amigo, que segue e marca outro amigo…” Hoje são mais de 387 mil.
As fotos do cachorro já viraram até livro, chamado “A Dog Named Jimmy” e vendido na Amazon por US$ 11,73. Os convites para publicação começaram já no ano passado. Rafael contratou um agente literário, que fez uma oferta de livro para dez editoras. Todas quiseram e ele fechou com a Penguin. “Lancei o livro lá fora primeiro porque, como tudo no Brasil, as coisas só têm valor aqui quando vêm lá de fora”, diz. Na Amazon, o livro está no topo na lista de mais vendidos com o tema cachorros. A versão brasileira será lançada pela editora Intrínseca.
Jimmy foi convidado para ir a Londres, para fotografar para um editorial de moda. Rafael não quis, mas a marca fez outra oferta: de estampar uma linha de produtos. “Fiquei muito honrado e caí em cima. O resultado ficou incrível e a coleção esgotou antes do que eles previam.” Jimmy talvez seja menos pop star que o aniversariante Bob, mas é modelo de alta costura. Tem celebridades animais para todos os gostos.