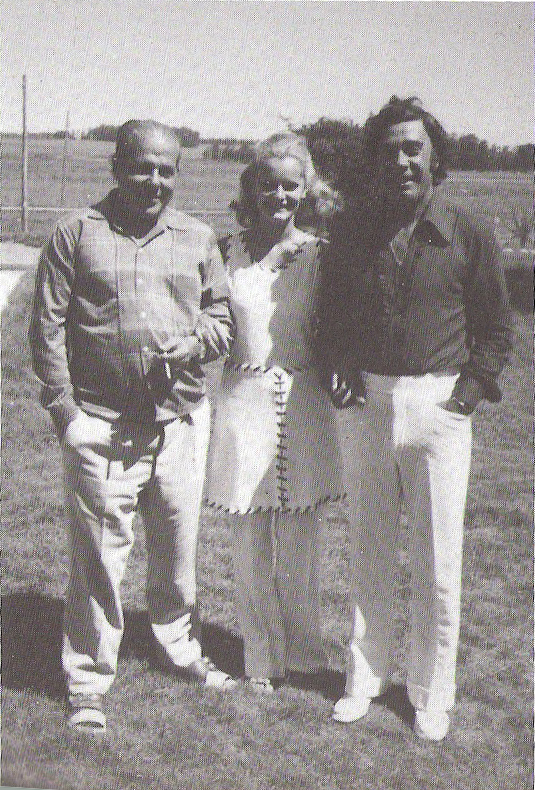Dizer que “Gilmore Girls” é uma série super realista seria um exagero. Da mágica Stars Hollow, com seus mil festivais e habitantes malucos a velocidade em que as pessoas falam, passando pela quantidade de besteira que as protagonistas comem sem engordar um grama, há muito de fantasia ali. Mas poucas séries conseguem captar como “Gilmore Girls” as complexidades das relações, principalmente familiares. Quando Lorelai, Rory e Emily brigam, trazem à tona década de ressentimentos e vão direto na jugular. Quando se divertem, é com piadas internas cultivadas ao longo de toda uma vida. As dificuldades, as decepções da vida, estão todas lá.
Quando a série terminou na televisão, com a sétima temporada — a única sem a criadora, Amy Sherman-Palladino, no comando –, seu final foi bem aberto. Rory conseguiu um emprego num site pequeno para cobrir a campanha de Barack Obama, Lorelai deu um beijo em Luke, Emily e Richard foram prestigiar a filha e a neta numa grande festa em Stars Hollow. A partir disso, cada um podia imaginar o final que queria. O site de Rory podia ter estourado, ela podia ter conseguido emprego num jornal, poderia estar morando em Nova York ou na Europa, poderia ter voltado com um dos ex-namorados, ou ter conhecido alguém novo, ou estar sozinha. Poderia ter casado, poderia ter tido filhos, ou nada disso. Lorelai podia ter se reconciliado com Luke, casado com ele, tido mais filhos. Ou o beijo poderia ser só uma recaída. Havia uma série de finais felizes possíveis.
Mas não seria “Gilmore Girls” se houvesse um final feliz. Então nos quatro novos episódios, lançados no Netflix, vemos que para Rory, Lorelai e Emily tudo continua complicado como sempre. (Atenção, spoilers a partir daqui!) Não, Rory não voltou com Jess nem estourou como jornalista — nem com um currículo como o de Rory está fácil. Quando a temporada começa, ela acaba de publicar um artigo na New Yorker e acha que com isso muitas portas irão se abrir. Desdenha de uma vaga num site menor e vive viajando o mundo com seus três celulares atrás de frilas, até que termina sem emprego, sem dinheiro e sem perspectivas na casa da mãe, no quarto onde cresceu. Na vida amorosa, também é um desastre: tem um namorado há dois anos, mas vive se esquecendo dele, e o trai com desconhecidos e com Logan, que está noivo de outra.
Lorelai parece mais estável, mas também está desmoronando. Sookie abandonou a pousada que abriram juntas, Michel também quer partir, Luke nunca a pediu em casamento e a ausência do papel assinado começa a incomodar. A relação com a mãe, Emily, também não vai muito bem desde a morte do pai, Richard. Emily, então, perde completamente o chão depois que o companheiro de 50 anos morre. Como viver sozinha depois de tanto tempo? O resto dos personagens também não vai muito bem: Paris e Doyle estão se divorciando, Zack tem um emprego que odeia, Michel se sente sem perspectivas de crescimento, Jess continua apaixonado por Rory, e Lane agora toma conta do antiquário da mãe e não realizou seu sonho de ser roqueira. Dean vai bem, finalmente realizando o sonho de formar uma família cheia de filhos.
Do ponto de vista de fã, é frustrante ver Rory seguir o caminho que segue. A piada sobre Paul, o namorado de quem ela não se lembra apesar do relacionamento ter dois anos, perde a graça logo e se torna cruel — embarcar num namoro desses não parece algo que Rory faria. Apesar de sua relação com a monogamia não ser das mais sólidas desde o início (ela beija Jess quando está com Dean e transa com Dean quando ele está casado), também irrita o fato de ela ser amante do ex-namorado e de trair Paul com Logan e com um cara avulso que ela conhece na rua sem sentir nenhum tipo de culpa. Dá pena dela também pensar que dez anos depois ela ainda está apaixonada por Logan, um namorado que só fazia sentido quando ela tinha acabado de sair da adolescência perfeita e que lembrava seu pai, com quem ela tem questões para resolver.

Mas “Gilmore Girls” nunca quis que Rory e Lorelai fossem perfeitas e esperar que Rory fosse ter a vida resolvida aos 32 anos era uma aposta arriscada de qualquer forma. Podemos não gostar do desenrolar das coisas, mas essa parte é coerente com aquilo que a série construiu ao longo de sete temporadas — “Gilmore Girls” nunca fez questão de que suas personagens fossem perfeitas.
Perfeição, aliás, passa longe desses novos episódios. Podemos perdoar o fato de Rory ter se tornado uma pessoa pior com o tempo, mas outros defeitos não e, no fim das contas, “Gilmore Girls: Um Ano para Recordar” é um fantasma daquilo que foi “Gilmore Girls”. Com a liberdade do Netflix, Sherman-Palladino e seu marido, Daniel Palladino, roteiristas e diretores da temporada, resolveram fazer quatro capítulos de uma hora e meia de duração (originalmente os capítulos tinham em torno de 40 minutos), representando cada um uma estação de um ano. A duração maior não foi bem aproveitada pela dupla e há cenas longuíssimas sem muito propósito e/ou cansativas, como a apuração de Rory para uma matéria sobre filas, as cenas do musical sobre Stars Hollow, os preparativos de Lorelai para sua caminhada e a aventura de Rory com Logan e seus amigos.
Essas cenas tomam espaço que poderia ser ocupado com as três garotas Gilmore juntas, já que a relação delas é o coração da série. Emily e Lorelai interagem um pouco — têm umas duas cenas memoráveis –, só é uma pena que as cenas de terapia que elas fazem juntas, que tanto prometia, não rendam tanto. Lorelai e Rory também, embora Rory passe praticamente mais tempo viajando pra Londres do que com a mãe (aliás: quem faz um bate-volta Estados Unidos/Londres como Rory, que ainda por cima está supostamente falida?). Raras são as cenas com as três juntas.
Juntar todo o elenco original para esses quatro episódios foi uma conquista e tanto e é reconfortante ver todos seus personagens queridos de novo. Mas os Palladino gastam tempo demais mostrando “ah, como Stars Hollow é esquisito!”, com cenas que pouco acrescentam, do que com a história dos personagens que amamos. Seria mil vezes melhor saber mais sobre Lane, para quem eu esperava justiça após o final terrível que foi terminar grávida de gêmeos aos 21 anos, do que ver as cenas na piscina de Stars Hollow (horrível da parte das Gilmore ficar julgando os corpos das pessoas em 2016). Mais Paris e menos Kirk. Mais interações de Jess e Rory. Poxa, até mais Dean seria bem-vindo.
Isso não significa que a temporada não tenha seus bons momentos. Rever Paris é uma alegria, com diplomas de medicina e direito e uma casa de cinco andares em Nova York, como deveria ser. Lauren Graham parece não ter deixado nunca de interpretar Lorelai e revê-la no papel é pura nostalgia mesmo nas cenas meio sem graça. Emily, particularmente, é um destaque. Sem chão após a morte de Richard, ela finalmente fica com uma empregada mais do que um episódio e meio que adota a família imigrante de Berta, com quem ela nem consegue se comunicar direito. Aos poucos, ela aprende a viver sozinha, vendendo a casa e largando tudo para morar na praia, onde passa as noites bebendo vinho e os dias ensinando crianças num museu.
No processo, solta alguns palavrões (no Netflix é liberado) ao deixar o esnobe grupo DAR de maneira memorável. A briga com Lorelai após o velório de Richard também é brutal, numa excelente atuação das duas. O arco de Emily é uma boa síntese daquilo que “Gilmore Girls” consegue ser nos seus melhores momentos: triste, engraçado, complicado, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se a série mostra algo, é que a vida não é fácil, mas pode ser muito boa.

Nesse sentido, o final é particularmente desapontador: não combina com “Gilmore Girls”. O mais frustrante é que há muitos anos Amy Sherman-Palladino diz que sabia quais seriam as quatro últimas palavras ditas na série. Como ela não trabalhou na sétima temporada, os fãs nunca souberam qual era o final imaginado por sua criadora. Durante a campanha publicitária dos novos episódios, Sherman-Palladino colocou os holofotes repetidas vezes sobre as tais quatro palavras. A expectativa era alta, o que nunca ajuda, mas nem nos meus devaneios mais loucos pensei que pudesse ser tão ruim. Rory diz a Lorelai que está grávida e há um corte.
Não sabemos a reação de Lorelai. Não temos nem certeza sobre quem é o pai. Tudo leva a crer que seja Logan, que a própria criadora disse que representa a figura do pai ausente na vida de Rory. Mas como Logan casou-se com outra, Rory repetiria a experiência da mãe e criaria sozinha a criança. Faria sentido, assim, a conversa que tem com o pai no último episódio: sabendo que estava grávida de Logan, perguntou para ele se ele se arrependia de ter deixado Lorelai criá-la sozinha — para ajudar a se decidir se incluiria ou não Logan na vida de seu filho. Como Christopher, Logan é um homem rico que ama Rory, mas não pode dar a ela aquilo que ela precisa. Alguns fãs de Jess especulam na internet que ele seria o Luke de Rory, o cara que a entende, que está ali pro que ela precisar, e que, no fim das contas, eles terminariam juntos. Mas meio triste pensar que Rory — a tão ambiciosa e estudiosa Rory, que queria ser jornalista pra viajar o mundo e “ver as coisas acontecendo” — terminou naquela cidadezinha, deixando a carreira de lado.
Dá muita alegria pensar que Sherman-Palladino não escreveu a sétima temporada, pois ver Rory como mãe solteira aos 22 anos, recém-formada, seria terrível. O que ela quis dizer com esse final? Que estamos fadados a repetir a trajetória dos nossos pais? Por que fazer Rory repetir a experiência da mãe, que foi tão difícil? Era essa a ideia desde o começo, fazer um final melancólico que mostre que a vida é cíclica e inescapável? Quando Lorelai pede um empréstimo à mãe, como no primeiro capítulo, percebe-se a ideia de “ciclo se fechando”. Se depois de tudo que elas viveram seu final é voltar pro início, é melancólico demais.