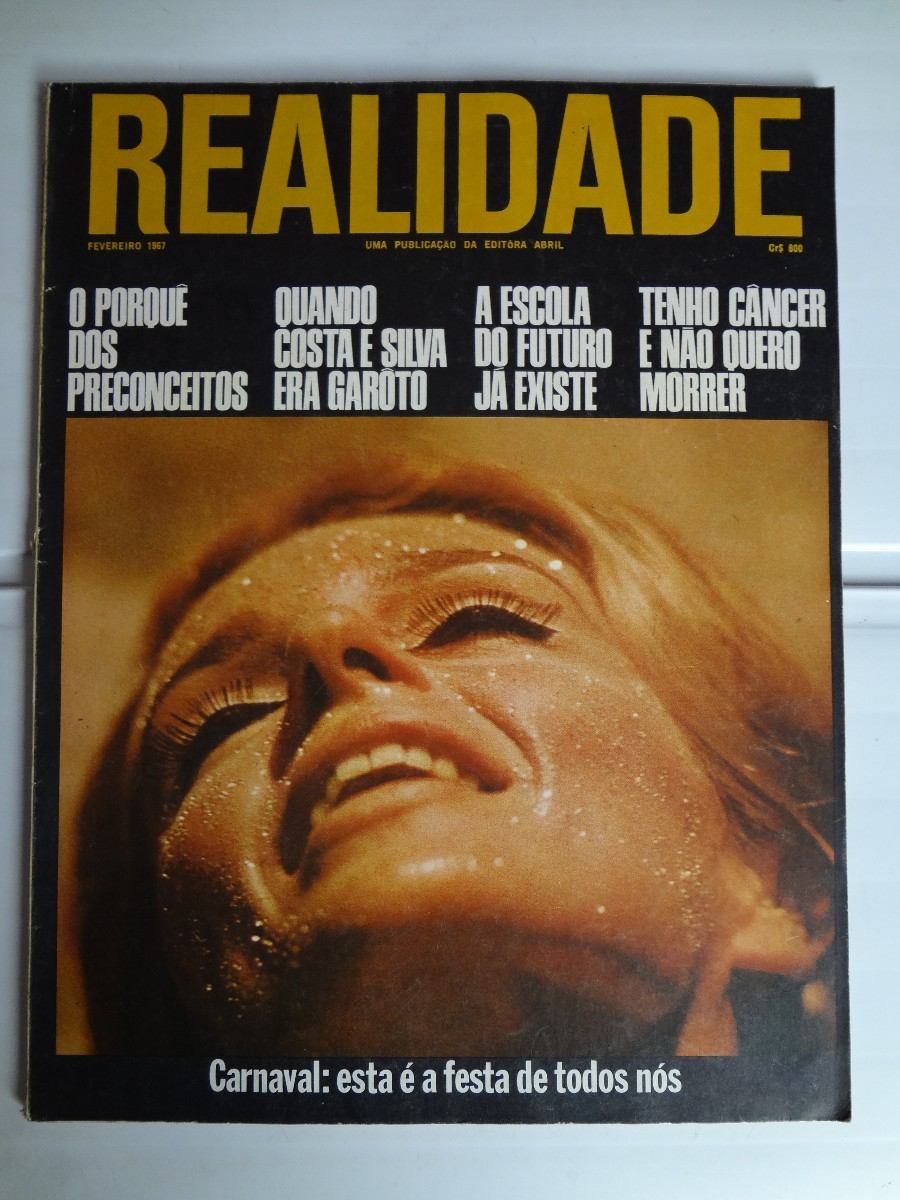Misha Glenny, jornalista britânico que participa da Flip deste ano, recebe um grupo de jornalistas falando português na manhã de quinta (29), numa pousada em Paraty. “Me coloquei duas condições [ao escrever o livro “O Dono do Morro: Um Homem e a Batalha pelo Rio”, sobre o traficante Nem da Rocinha]. A primeira é que quis tentar aprender português. Isso foi há dois anos e meio, três anos. O início foi bem fácil. É fácil ler português. Mas falar é quase impossível. Foi um choque”, diz, rindo. “ Português não é uma língua muito fonética, é um problema. Mas me empenhei. E quando eu falava com as pessoas na favela elas falavam [o idioma] ‘rocinha’.”
Morar pelo menos dois meses na favela carioca era a segunda condição — e foi o que fez dois anos atrás. “Foi um desafio, a vida na favela é muito difícil. Mas achei que se ia escrever sobre a favela precisava entender as condições de lá. Tinha que entender a condição do Nem.” A ideia de escrever um livro sobre o traficante nasceu em 2011, quando Nem foi preso. Glenny estava no Rio e, ao ver toda a atenção que o acontecimento recebeu por parte da mídia, lembrou-se da prisão de O.J. Simpson, que parou os Estados Unidos. “Todas as redes de televisão foram [atrás]. Foi uma resposta não histérica, mas sensacionalista. Li tudo sobre ele em jornais, vi TV. Metade do Rio achava que o Nem era um demônio e metade achava que era um herói, um tipo de Robin Hood.”
Mas o que chamou particularmente sua atenção foi ver que Nem só tinha entrado no tráfico aos 24 anos, para cuidar da filha, com uma doença rara. Glenny queria ver as condições que o levaram a esse mundo. “Ele, pra mim, era um símbolo da desigualdade da sociedade brasileira e carioca. É uma sociedade bem dividida. Estava procurando um assunto para explicar o Brasil para as pessoas de fora. É um país de quatro ou cinco estereótipos: futebol, samba, Carnaval… Pra mim, é um país muito mais complexo, mas a visão de fora é cronicamente simplista. Buscava um assunto para explicar essa complexidade e Nem me pareceu esse assunto.”
Escreveu para o traficante na penitenciária e ficou surpreso quando, poucas semanas depois, recebeu um convite para ir até lá discutir o projeto. Foram, ao todo, 24 horas de conversas e, logo de cara, Glenny perguntou a Nem sobre sua família. “Ele tinha sido entrevistado dezenas de vezes e nunca tinham perguntado sobre a infância dele. Para mim, essa linha de perguntas rendeu muitos frutos”, conta o jornalista. Os pais de Nem eram alcoólatras e desde cedo ele era testemunha de episódios de violência doméstica. Tinha uma relação particularmente forte com o pai, que trabalhava em um bar em Copacabana. Foi lá que ele levou um tiro no joelho, em meio a um assalto. Saiu do hospital sem conseguir andar e Nem, aos 11 anos, foi o responsável por cuidar dele pelos meses que se seguiram e culminaram em sua morte por infarto.
[imagem_full]

[/imagem_full]
“Sua obsessão é ser um bom pai. E ele tem muitas oportunidades, tem sete filhos, dois adotados”, diz Glenny. Durante a juventude, Nem não trabalhou com drogas, com as quais se envolveu para ajudar a família: entregava revistas da Net na zona sul do Rio, gerenciando uma equipe. “Era visto por todos como uma pessoa do bem. É um diferencial a idade em que entrou pro tráfico. Era muito inteligente e gerenciava uma equipe na zona sul. O Lulu, que era o dono do morro, reconheceu seu talento e ele subiu rápido.” Um entrevistado que não quis ser identificado no livro contou ao jornalista que Nem conseguia olhar para um monte de cocaína e saber de cara quanto aquilo renderia e para onde a droga deveria ser distribuída para otimizar os resultados.
Nem entendia, por exemplo, a importância da informação — fácil de vazar — e a ameaça que celulares e redes sociais representavam para sua organização. Falava pouco ao telefone e tinha um assistente responsável por carregar um monte de celulares para ele, cada um para falar com um membro da organização. A polícia desvendou toda a hierarquia da quadrilha, mas mesmo assim não conseguia fazer a conexão de cada membro com o líder por causa de sua precaução.
O livro, lançado aqui pela Companhia das Letras, não é apenas uma história de Nem, mas também a história da Rocinha. “É parcialmente uma história do desenvolvimento das favelas no Rio e do impacto da cocaína na cidade”, resume o autor. Em 1982, a taxa de homicídios no Rio de Janeiro e em Nova York era igual. Sete anos depois, o número era três vezes maior no Rio. “Isso porque o Brasil se tornou o principal país de trânsito de cocaína da Colômbia para a Europa. Quando um país se torna trânsito principal da droga ele desenvolve o hábito local também. Isso aconteceu aqui, especialmente no Rio”, afirma Glenny. Graças a geografia do Rio, cheia de morros, várias facções rivais se formaram para disputar a hegemonia, situação diferente de São Paulo, controlada pelo PCC.
Essas favelas cariocas não têm a história contada, diz o jornalista. E ele quis contribuir contando aos leitores sobre acontecimentos que pouca gente conhece. Cada morro é diferente: na Maré, há muito medo, medo real. Na Rocinha instaurou-se outro clima, “cool”. “O dono do morro tem três instrumentos para exercer o poder político na favela: o monopólio da violência, o apoio da comunidade e a corrupção da polícia. Nem diz que para ele o mais importante era o apoio.” Ele assumiu o comando da Rocinha em 2005 — em 2004, o Comando Vermelho havia mandado matar o antigo chefe. Sob sua gestão, a taxa de homicídios caiu drasticamente, fato constatado por pesquisadores e confirmado pela polícia.
“Quando morei na Rocinha o que me impressionou é que tem uma atividade econômica feroz”, conta Glenny. “Foi a primeira favela com bancos. Tem todos os tipos de loja, inclusive o primeiro sex shop numa favela. Tem Bobs. Acho que isso parcialmente foi resultado da política do Nem na favela. Ele percebeu que se a taxa de homicídio cai, o lucro dos negócios sobe. Ele nega ter feito isso conscientemente, mas levou parte dos lucros do tráfico para uma espécie de sistema de bem-estar social embrionário na favela.”
Mais segurança na favela impacta o consumo de cocaína, que tem como boa parte do público gente de classe média e classe média alta — fato que Nem logo sacou. “Como era percebido como um lugar seguro, vinha muita gente de fora, que já ficava na boate. A Rocinha virou uma marca na época do Nem, todo o mundo queria ir lá. Artistas faziam shows, políticos tiravam fotos, porque sabiam que não teria problema.” O traficante investiu também na corrupção policial, e assim ficava sabendo com antecedência de batidas na favela. “O tráfico teve um impacto na economia, mas é uma interação muito complexa”, sintetiza Glenny.
Entre os entrevistados do jornalista está José Mariano Beltrame, Secretário de Segurança do Rio de Janeiro. “Ele me disse que a ausência do Estado nas favelas foi um choque para ele e ele quis mudar. A UPP [Unidade de Polícia Pacificadora] foi um experimento muito corajoso e só foi possível porque em 2007, quando Cabral assumiu, as forças políticas em nível federal, estadual e municipal estavam prontas para colaborar.” Para Glenny, Beltrame fez um bom trabalho. “A falha do Estado foi não apoiar a UPP policial com a social. As UPPs diminuíram as taxas de homicídio, mas as taxas de outros crimes, como roubo e estupro, aumentaram”, diz. O sistema, agora, está colapsando, segundo ele, em parte porque Beltrame não tem os recursos para continuar com as UPPs em tempos de crise.
Seu prognóstico para o futuro, porém, é bem pouco otimista, não só para as favelas. “Acho que a situação nas favelas ficará mais ou menos estável até os Jogos Olímpicos. Tenho medo de depois a situação piorar no morro e no asfalto. O morro e o asfalto são intimamente interligados, mesmo que as pessoas não percebam.”