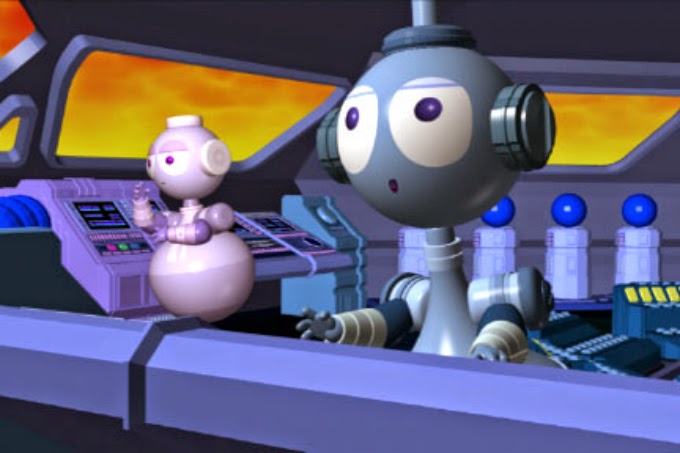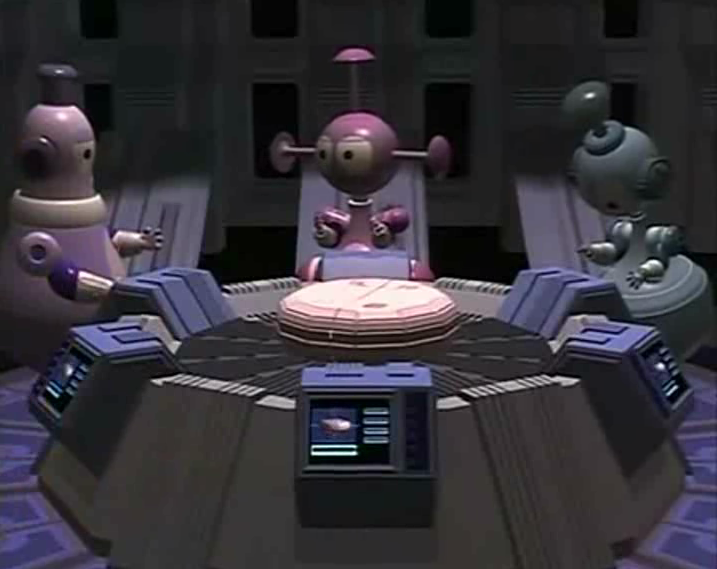“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Se tem uma coisa que você precisa saber sobre K-pop, a música pop produzida na Coreia do Sul, é que o fanatismo obcecado dos fãs se expressa em gritos. É início de noite da quinta-feira, 21 de julho, e o Teatro Gazeta, na avenida Paulista, está lotado de adolescentes, sobretudo meninas, segurando um mar de varinhas de neon.
No palco, sucedem-se 17 grupos covers de dança e canto selecionados para o 3º Korean Pop Festival. O prêmio geral é cinco mil reais e o de cada categoria, três mil. Mais importante: os vencedores poderão disputar uma vaga para competir na final mundial na Coreia do Sul.
Cada artista que pisa no palco, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”, cada grupo, “AAAAAAAAAAAAAAAAA!”, cada mensagem dos apresentadores “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”, é respondida com uma manifestação ululante das fãs.
No palco tem uma menina que, meu Deus!, o que é isso? É a Pammie interpretando Arirang Alone, da cantora So Hyang, com uma voz tão imponente que se impõe sobre o grito da plateia, atingindo uns agudos lá pra cima na escala. Gente, ela é tudo! Canta em coreano, apesar de não ter completado nem o primeiro módulo do idioma. Ela não é nem cantora profissional, mas auxiliar administrativa em uma empresa que vende doces e salgados. Se não fosse o K-pop, o nome dado ao fenômeno cultural coreano, ela não estaria cantando. E esse prêmio é importante, porque ela ganhou o geral do ano passado, mas não foi pra Coreia, embora merecesse muito! Todos ali sabem quem é Pamella Raihally.
Sabia que o Brasil já teve uma banda que tentou imitar o pop coreano? Era a Champs, que apareceu na Ana Maria Braga (ela chamou de Champers, ai…), ganhou 600 mil likes no Facebook, mas acabou e um integrantes do grupo virou YouTuber e já tem 70 mil seguidores. O Iago, lindo!, virou ex-Champs, seguiu dançando e tem uma banda cover chamada Allyance, que está agora reunida nas coxias de teatro. A apresentação da cantora Mônica Neo, que veio depois da Pammie, está acabando. Eles estão ali há um minuto abraçados e, de repente… o “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” invade as coxias. O nome da banda está no telão. Todos sabem que é a banda de Iago Aleixo.
O grito, aqui, não é o símbolo do desespero, mas da tomada de assalto da cultura coreana em segmentos dos jovens brasileiros, num fenômeno chamado Hallyu — a nova onda avassaladora que veio da Ásia e abocanhou os jovens da classe C.
[imagem_full]

[/imagem_full]
A infiltração do K-pop no Brasil pode estar à margem da sua rede de contatos e até da sua timeline, mas ela é a parte mais expressiva do soft power sul-coreano por aqui. Pelo leste da Ásia, os produtos culturais do país se espalharam com a força de uma política de Estado que deu certo. O termo Hallyu precisou ser criado por jornalistas chineses para explicar a influência cultural do Estado vizinho.
Por falta de acesso aos mercados dominados pelas grandes gravadoras e incapazes de enfrentar a pirataria na China, as empresas coreanas abdicaram do CD e apostaram no que acabou por se tornar a MTV dos anos 2010, o YouTube. Deu certo? Bom, lembra do Psy? A música Gangnam Style, que explodiu em 2012, não passava de uma piada interna, uma ironia a uma cultura musical bem estabelecida — até hoje nenhum vídeo superou sua marca de dois bilhões de visualizações.
Os clipes das bandas mais famosas entre os fãs costumam ter um ar mais romântico, a um só tempo atrativo e infantil, no qual a beleza dos artistas parece ter saído de um anime. Existe um grau de sexualidade latente, mas sublimada nas atitudes dos músicos jovens: sempre educadinhos e fofos; nunca machos alfa pegadores.
Pouco a pouco, via YouTube e bordas da cultura anime, o K-pop começou a fincar raízes bem no momento em que a classe C se expandia no Brasil e procurava novas referências culturais. Mesmo exóticas, elas se acomodaram a valores mais conservadores, evangélicos, acompanhadas por sonhos de luxo e glamour. Alessandra Vinco começou como fã em 2011 e agora pesquisa o tema pela Universidade Federal Fluminense. Para ela, K-pop é um gênero híbrido: se apropria de elementos globais, mas preserva valores confuncionistas, como a preservação da família, o respeito ao próximo e o resguardo da vida sexual.
Uma pesquisa do centro cultural coreano apontou que o número de fãs no Brasil era 220 mil pessoas. A sensação é que o número é bem maior. A maior prova, para além dos diversos sites e festivais que cultivam o nicho, é que o programa do Raul Gil vai estrear um quadro chamado “Quem sabe, dança K-pop” no dia 13 de agosto. “Nesta nova atração”, diz o locutor do vídeo promocional, “atravessamos o planeta para trazer um gênero musical repleto de batidas emocionantes e coreografias absolutamente viciantes”. Grupos cover podem se inscrever no site do SBT. O prêmio será de 10 mil reais.
Já os aspectos demográficos têm dados um pouco melhores. Em 2015, Tiago Canário, um doutorando no departamento de Cultura Visual da Korea University, fez uma pesquisa online na qual 2.764 pessoas responderam a um questionário sobre o cultura corena no Brasil. Dessas, 91,3% se identificaram como mulheres, 8,36% como homens. No total, 95% dos fãs de K-pop tinham entre 10 e 29 anos. Apenas 18 pessoas se identificaram como descendentes de coreanos.
Ricardo Pagliuso Regatieri, um pesquisador brasileiro do departamento de sociologia da Korea University, escreveu em artigo ainda não publicado que os fãs paulistas vêm de regiões periféricas e semiperiféricas da cidade e arredores. Resultados preliminares de outra pesquisa online feita com 635 pessoas mostra que 37% dos fãs têm renda familiar entre R$1.751 e R$3.500 por mês e 26% têm renda familiar mensal de até R$1.750. Ou seja, boa parte se enquadra dentro da nova classe C brasileira.
No artigo, Regatieri oferece uma interpretação do fenômeno: o K-pop se conecta ao processo de mobilidade social, usando a popularidade da internet no país como principal combustível. No processo, os fãs do estilo no país buscam uma ruptura com os modelos culturais de seus pais e avós. A fábrica de sonhos do K-pop, ele escreve, oferece um repertório de modernidade centrado nos prazeres do consumo, da moda e do glamour da vida na cidade.
[imagem_full]

[/imagem_full]
Pammie e Iago — a cantora e o youtuber — são parte dos dois mundos. Moradora do limite entre São Paulo e Diadema, ela começou a cantar pequena, nos cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Logo, o talento foi reconhecido e começou a ser chamada para se apresentar, de graça, em casamentos dos fiéis. Em 2010, no último ano da escola, viu o primeiro clipe de K-pop pela internet — era GARAGARA GO!!, da BIGBANG.
“O K-pop foi natural pra mim. Cheguei a mostrar para algumas amigas, mas elas não ficaram tão fãs como eu. A gente ensaiava numa sala vazia para se apresentar nas festas da escola”, me disse por telefone durante o seu intervalo do almoço na empresa onde trabalha como auxiliar administrativa, no Morumbi.
Pamella, 23, é um tipo de talento natural. Chegou a fazer aulas de canto depois que alguns professores elogiaram sua performance ao interpretar uma música da Rihanna em coreano. Não chegou a concluir o curso, contudo. Eram tempos de IPI reduzido. “Na época, meu pai queria comprar um carro. Como era ele que pagava pra mim, e a escola era muito boa e cara, eu sacrifiquei a minha aula para podermos comprar. Depois, não voltei mais.”
Uma das juradas do 3º K-pop Festival, a cantora lírica Cecília Massa, acha que Pammie tem potencial para ser uma cantora de jazz. “Vejo nela um altíssimo nível vocal, capaz de fazer variações muito rápidas na voz. A primeira vez que a escutei ela me lembrou da Whitney Houston”, me disse numa tarde do final de julho em um café em Santa Cecília.
Para ela, Pamella está escutando um repertório com melodias simples e harmonia básica. “Ela tem um material maravilhoso, mas é uma escolha dela”, disse sem nenhum tom professoral. “Seguir cantando é uma felicidade que ela pode ter e dar ao outros”.
Acontece que Pammie fica num cruzamento em termos de mercado e talento. É boa demais para o que faz sucesso na televisão, mas tem poucas referências de caminhos a seguir e cantoras em quem se inspirar. “Você não consegue viver da música aqui no Brasil”, me disse Pammie. “Já pensei em seguir mas é difícil. Acho que se eu não tivesse conhecido o K-pop, hoje não estaria cantando.” Uma vitória no concurso é o estímulo para fazê-la seguir o que lhe dá mais prazer.
As empresas coreanas conseguiram criar uma tecnologia cultural capaz de criar boys e girls bands em uma sequência quase industrial. Os futuros artistas entram como trainees por volta dos 15 anos e saem capazes de atuar, cantar, dançar etc. Existe o V-pop (Vietnã), o T-pop (Tailândia) e J-pop (Japão). E por pouco não vingou por aqui um B-pop.
Iago Aleixo, hoje com 20 anos, foi uma cobaia da tentativa de reproduzir o modelo no Brasil. Aos 17, foi selecionado por um produtor coreano e passou a morar com mais cinco pessoas no centro de São Paulo. Nascido no Rio, hoje ele mora com a mãe em Osasco.
Nos encontramos no café do Centro Cultural São Paulo, que se tornou o ponto de encontro dos k-poppers, um pouco antes de um ensaio da sua banda, a Allyance, para o festival que ocorreria na semana seguinte. Antes da conversa, ele entrou no bar e saiu com uma garrafa de 600ml de refrigerante. Tentou abri-la; não conseguiu. Deixou-a sobre a mesa e contou sobre sua experiência no processo de se tornar um b-popper em 2013.
[olho]”As meninas têm que te querer e os meninos têm que querer ser você”[/olho]
“Era um projeto da JS Entertainment, empresa coreana com foco no Brasil. Depois da seleção, tive que deletar as redes sociais e criar novas como se eu fosse uma nova pessoa. Praticamente, nascer de novo. Eu tinha muitos tweets antigos, então, tipo, se a pessoa fosse nos arquivos poderia ver alguma possível besteira que falei quando era pequeno. Daí isso pesaria agora. Eles excluem toda nossa vida passada, só deixam a mostra o que querem.” Tentou abrir novamente a garrafa. Não conseguiu.
“Na Champs, eu era o mais novo, por isso tinha que mostrar uma pureza. Tinha que ser um fofinho, sem barba, meu cabelo tinha que ser liso, jogado à Justin Bieber. Não podia usar óculos, pra visualmente ficar mais bonito, e tinha que ser um corpo definido pra criar mais interesse. Ou seja, tinha que ser um menino perfeito. A empresa cria a ideia do desejo. Eu fiz parte disso, desse meio. Nosso empresário falava ‘vocês têm que fazer a menina desejar vocês para se elas se tornarem fãs. As meninas têm que te querer e os meninos têm que querer ser você’”. Mais uma tentativa com a garrafa. Nada.
De óculos, com uma barba ruiva de poucos dias, ele fala com empolgação do treinamento. De seus lábios saem palavras que relembram a antiga rotina com um leve sotaque carioca: de segunda a domingo, da manhã à noite, musculação, canto, coreografias, aulas de hip-hop, ballet e jazz. Sábado era dia de treino livre e teatro. Domingo o ensaio era até as 15h, depois vinha a folga. Fora moradia, não recebia nada. “Querendo ou não, ele [o empresáio] tava gastando bastante dinheiro.”
Por fim, gravaram o clipe na Coreia e estrearam no Brasil. Receberam boa cobertura da imprensa, mas a Champs não deu certo naquele momento. Iago acha que foi má administração. Porém, o sistema do K-pop se baseia em baixas margens de lucro. Como a música é distribuída de graça pelo YouTube, o sistema de vídeos do Google fica com a maior parte do dinheiro da publicidade online. Se a base de fãs não dispara, os shows e outros produtos não compensam o investimento.
Quando viu que não daria certo, fez o que boa parte dos jovens deseja hoje em dia: criou um canal no YouTube. Começou com duas mil pessoas e agora tem 70 mil seguidores. Espera acabar o ano com 100 mil. Diz que não está mais vendendo um personagem, mas o Iago real.
“O Iago do Champs era uma pessoa para ser desejável e eu não quero ser desejável. Quero ser admirado. Quero que as pessoas olhem pra mim e falem ‘caraca, olha o que ele tá fazendo com estilo que eu gosto’. Não quero ser o estrelinha, o famosinho. Quero ser uma pessoa que é parada na rua por alguém dizendo que gosta do meu trabalho.” Ele pega a garrafa, crava os dentes molares na tampa verde. Contrai os olhos, gira a garrafinha com as mãos e tssssss. Consegue abri-la. Toma um gole e vai encontrar os colegas para o ensaio da música Fly, da banda GOT7.
Para ele, vencer o festival significa, além do gosto do prazer de se sentir um k-popper e do prêmio para pagar os custos figurino, faz parte de uma estratégia para voltar à Coreia do Sul e ajudar a turbinar seu canal no YouTube.
[imagem_full]

[/imagem_full]
Na longa fila que se forma nos arredores do Teatro Gazeta, centenas de adolescentes aguardam para entrar no festival de covers de K-pop. Um dos poucos adultos, o guarda civil Hélio Marques, 52, acompanha as três filhas. “Vim por causa da minha menina, que escuta muito, muito. Ela sabe até o que o menino come”, diz sem brincar.
Antes do show, encontro com Pamella e Iago. Ela, bem maquiada, de vestido longo floreado e Havaianas, está insegura, com um pouco de medo por causa da dificuldade da música. Ele, mais profissional, ainda está sem o figurino. Conta que no último ensaio, dois dias antes, repetiram toda a dança 25 vezes. Eles tiram fotos e voltam para acabar de se arrumar.
O teatro está lotado. Os cerca de 50 competidores ficam no mezanino, à esquerda de quem encara o palco. Dá pra sentir a expectativa e a tensão. Iago, já com o figurino, fica filmando e tirando fotos com os amigos. Há grupo de cinco meninas vestidas com o que parece ser um uniforme das paquitas. Duas delas ensaiam alguns passos juntas. Pamella está sentada com o celular na mão, de cabelo solto. Está ao lado de outra cantora, com a qual troca algumas palavras. Fala com outras pessoas, mas a vida de cantora parece mais solitária.
Não só pela música, mas todos estão agitados, afinal é o principal momento pelo qual esperaram e treinaram. A recompensa é grande. Pelas regras do evento, há duas vagas para disputar a chance de ir pra Coreia. Se, por exemplo, o canto vencer o prêmio principal, a outra vaga é de quem vencer na dança.
Os participantes têm camarins, garrafas de 1,5 litro de água e esfihas do Habibs à vontade.
O primeiro competidor, Davi Nogueira, senta num banquinho e com violão em mãos, apresentada uma música de Roy Kim.
“Boa noite”, diz. A plateia responde: “AAAAAAAAAA!”
Antes de começar a tocar, uma menina atrás de mim grita: “Arrasa, viado!”
Na sequência, várias bandas e competidores tomam o palco. Os momentos mais sexualizados das coreografias são os que arrancam mais gritos. Por vezes, os berros são tão fortes, constantes e esganiçados que se sobrepõem à voz das apresentadoras.
Os artistas se sucedem até que às 20h14 chega a vez de Pammie.
Perto dos demais, ela parece uma cantora de ópera. Das coxias, dá pra ver que ela transpira presença de palco, segura o microfone com uma mão e despeja toda sua potência sonora. É uma apresentação elegante — recebe mais aplausos do que gritos. Ao sair, bebe três copos d’água. As mãos tremem. Não consegue dizer muito além de “tô nervosa”.
Em seguida, há outra apresentação. O grupo de Iago fica na lateral do palco e se prepara para entrar. Todos os membros se abraçam e formam um círculo. Iago fala algumas palavras de motivação. Ficam assim por mais ou menos um minuto. A cantora que está no palco, Mônica Neo, encerra a apresentação. Iago está sem óculos. O círculo se desfaz e eles se dão uns tapinhas de apoio. O nome do grupo aparece no telão e eles entram no palco para atender ao chamado da orquestra de berros. Do backstage, de uma visão lateral, a coreografia parece perfeita. Ao final, os gritos, sempre eles, invadem a coxia. Os integrantes saem em duplas em silêncio. Recebem elogios dos grupos que esperam para se apresentar. Iago põe os óculos.
Longe do palco, depois de um longa escadaria que leva a um espaço atrás no mezanino, um dos dançarinos, Paulo Fraga, chora muito. Toma água tremendo. Iago reúne todos, formam um novo círculo e ele diz: “A galera não parou de gritar! Não importa quem errou. Tô muito orgulhoso desses quatro meses de trabalho”.

Eu volto para a plateia e sento em outro lugar. A menina ao meu lado, de blusa e meia calça preta, saia rosa um palco acima do joelho, usa óculos redondo de acetato. Ela pula na cadeira, chacoalha a varinha de neon, grita com força, descansa e se abana.
O anúncio dos prêmios sai pouco tempo depois da última apresentação. No palco, estão reunidos todos os competidores. Das coxias, o áudio fica abafado, mas descubro que a Pammie é a número um do canto. O Allyance ganha na dança. Venus, um cover de dança de 10 meninas, é o primeiro geral. Iago ganha o dinheiro, mas não terá a chance de competir na Coreia. Todos se abraçam, perdedores e vencedores. Mas quem fica para a foto são só os vencedores.
Mais calma, Pammie diz que o retorno do áudio estava distante e por isso não conseguia saber se tinha ido bem. No olho escuro, negro, quase sem diferença entre íris e pupila, só se vê o brilho do reflexo das luzes. Várias pessoas a parabenizam. Alguém comenta: “Agora tem que deixar as amiguinhas ganharem”. Ela sorri amarelo — é uma menina tímida, não uma artista.
Conversa com Cecília Massa, uma das quatro juradas. Ela está dizendo que a música é muito difícil, mas que existem caminhos profissionais, com mais consciência vocal. Fala de um jeito educado, preocupado.
“Você faz aula?”, pergunta a jurada.
“Não.”
“Você canta música brasileira?”
“Não, mais internacional.”
“Você tem presença, mas tem que ouvir grandes intérpretes internacionais e nacionais.”
“Se não fosse o K-pop, eu não estaria cantando.”
“Mas tem um mercado, sim. Não é o da TV ou que aparece na grande imprensa, mas existe um outro mercado. Na internet, em editais…”
A seguir, encontro com Iago. Está sério, mas age como um profissional. Elogia as concorrentes, fala do esforço do grupo do prêmio, mas sabe que não ganhou o que queria. Assim que para de falar comigo diz a um colega: “Nossa!, que raiva, velho. Vídeo filho da puta!” Ele atribui a derrota ao vídeo enviado na pré-seleção dos competidores.
Os demais integrantes do Allyance reforçam que ficaram felizes pelas concorrentes da Venus, o que parece sincero. Mas há uma melancolia no ar. Iago está com o espírito desinflado, o olho abaixou, o sorriso ficou mais profissional. É uma vitória manca.
Todos saem do mezanino e vão para o saguão do teatro, onde artistas e público se misturam. Dezenas de jovens estão chupando Melona, aquele picolé retangular verde, que é coreano, vendido na Liberdade, e que foi distribuído de graça no final do evento. No saguão, Iago tira fotos com várias fãs sempre da mesma maneira. Sem sorrir, faz um gesto comum entre coreanos — um V lateral com a mão esquerda, a mesma que segura um pacote de salgadinhos.