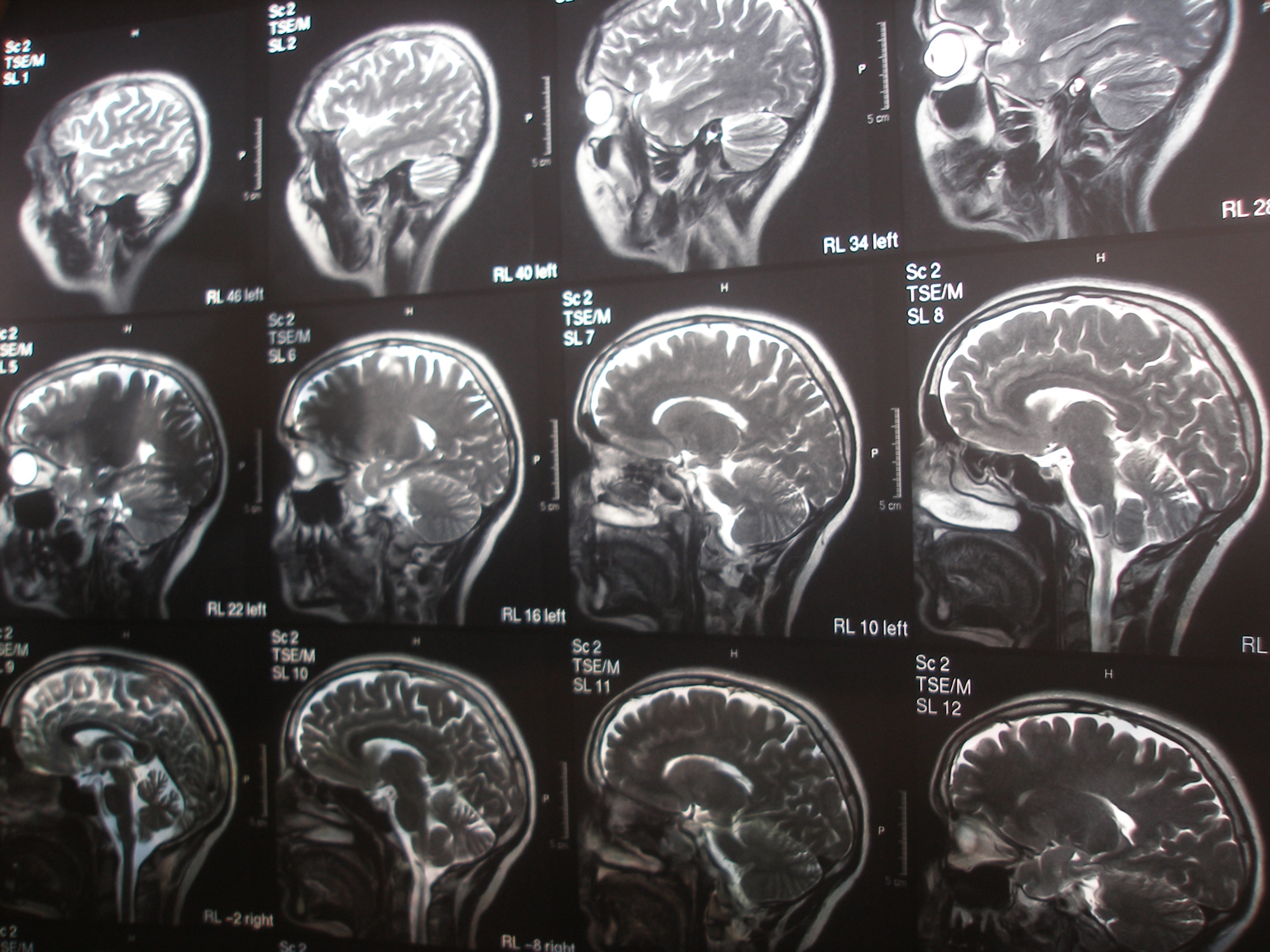Sinto que Karl Ove Knausgard e eu somos amigos — a recíproca, infelizmente, não é verdadeira. É modo de dizer, claro. Mas sinto como se, de alguma forma, o conhecesse e como se ele fosse me entender também caso tomássemos uma cerveja. Não é um tipo de sensação de todo incomum com celebridades: você vê tantas coisas sobre elas, tantas entrevistas, posts em redes sociais, fotos, vídeos, que sente como se soubesse de fato como elas são na vida real. Com Karl Ove (sinto que somos íntimos, então o chamo pelo nome) a ilusão é ainda mais intensa. Em seus livros ele revela coisas sobre si que não se sabe nem sobre os amigos mais próximos e que provavelmente poucos assumiriam pra alguém, quanto mais pro mundo todo. Um parágrafo de Karl Ove vale mais que mil selfies ou entrevistas para Jimmy Fallon.
Minha história com ele começa três Flips atrás, em 2013, e ganha novos episódios todo mês de junho, quando um novo livro seu é lançado no Brasil. Karl Ove era um dos convidados do evento e lançaria aqui “A Morte do Pai”, o primeiro livro de sua série autobiográfica “Minha Luta”. Chegaram alguns exemplares na redação em que eu trabalhava e uma amiga, com indicações sempre certeiras, me deu um. “Lê esse, é bom.” Abri o livro no metrô, voltando para casa e fui fisgada na primeira frase, devidamente anotada num caderno para referência: “Para o coração a vida é simples: ele bate enquanto puder. E então para”.
Que ele também ache esse trecho particularmente bom é mais uma evidência de que estamos na mesma sintonia, digo para mim mesma. Numa conversa com James Wood publicada na Paris Review, Karl Ove diz: “O tempo todo em que escrevi esses seis livros senti que não era uma boa escrita. O que é bom, acho, são as primeiras páginas do primeiro livro, a reflexão sobre a morte. Quando estávamos publicando aquele primeiro livro meu editor me pediu para remover aquelas páginas, porque elas eram muito diferentes do resto e ele estava certo. Ele está certo, seria melhor, mas eu precisava de um trecho do livro em que a escrita fosse boa. Passei semanas e semanas naquele pedaço e acho que é uma prosa modernista, de alta qualidade. O resto do livro não está no meu nível”.
“A Morte do Pai” me acompanhou em bares, pautas, trajetos de metrô e ônibus e desde então aguardo ansiosamente o dia do ano em que o volume seguinte será lançado — algo como esperar o novo “Harry Potter” quando eu era criança. Comprei para mim um exemplar autografado de um dos livros, de um sebo americano. Dei os livros do Karl Ove de presente para um monte de gente. Fiz minha parte para ajudar a espalhar sua palavra pelo mundo. Para cada momento da vida há um trecho do Karl Ove que cai bem – ele tem bons conselhos. Exemplo prático, de uma frase de “Um Outro Amor”, que também integra meu caderno: “(…) que pecar é se colocar numa posição onde o pecado se torna possível. Encher a cara, quando você sabe o que está pensando e conhece o impulso que existe dentro de você, é se colocar nessa posição”. Sábio.
A sinopse de um livro de Karl Ove não faz jus a ele. “Mas… É um livro sobre a vida do cara?”, perguntou meu irmão quando tentei convencê-lo de comprar “A Morte do Pai” para ler durante as férias. Se é pra ser direto e confuso: sim, é — mas não é. A vida dele não tem nada de muito especial, no fim das contas. Mas é como ele disse numa entrevista (vou ter que confiar na minha memória nessa, já li tantas dele que agora não consigo mais achá-las): toda vida merece esse tipo de atenção, mesmo que nada de extraordinário te aconteça. O que faz com que os livros de Karl Ove se destaquem não é o enredo, mas a forma como ele conta as coisas, com uma honestidade brutal sobre si mesmo e todos à sua volta. Ele não pinta um autorretrato favorável. Coloca na página as mesquinharias, os defeitos, as humilhações, passagens vergonhosas que preferiríamos esquecer. Todo o mundo pode achar algo em Karl Ove, porque na escrita dele a vida é como ela é.

***
Um ano depois, em junho de 2014, perto da Copa do Mundo no Brasil, fiz uma entrevista com ele por telefone. Há quem diga que é melhor não conhecer seus ídolos e por alguns dias, enquanto tentava marcar de falar com ele, temi pelo pior. Temi que ele fosse chato e temi que eu fosse perder a compostura. Mandei um e-mail para ele para acertarmos o horário e escrevi tentando ser ao mesmo tempo formal (ele não podia saber que eu o amava) e simpática (eu queria que ele me amasse). Ele respondeu assim:
Hi Fernanda,
Hope this reach you well! I´m fine, thank you – as everybody else here occupied with football in your country (hopefully, Chile will beat Holland, for Brazil will beat Holland, but Chile, that´s a tough one!) I´m honored that you will interview me. Tomorrow between 11 and 13 is fine!
All my best,
Karl Ove
Pura simpatia. Grande uso de exclamações. Conversamos sobre futebol! Ele estava honrado em ser entrevistado por mim. Marcamos para as 11h no horário dele, na Suécia. Uma escolha estratégica da minha parte: seriam 6 horas da manhã aqui e a redação estaria vazia. Não contei com o fato de que no dia anterior a gente sairia de madrugada do jornal e eu praticamente não dormiria. Mas eu queria privacidade.
Karl Ove é tão bom entrevistado quanto escritor. Seu tom de voz, seu sotaque e sua cadência são reconfortantes e suas respostas são inteligentes e assertivas. Escritores, em geral, são bons de conversa, e Karl Ove não é exceção. Conversamos por pouco menos de uma hora, bem mais do que coube no papel, principalmente sobre a série “Minha Luta” — na época o segundo volume, “Um Outro Amor”, era lançado no Brasil. Enquanto o primeiro se debruça mais sobre sua complicada relação com o pai, o segundo fala de seus filhos e do segundo casamento. Os dois são igualmente bons — depois, o próprio Karl Ove admite que segurou um pouco a mão, soltando-se de novo no último. Consequências do bafafá gerado pelo lançamento dos livros na Noruega — nem todas as pessoas citadas na obra ficaram contentes.
Novamente conversamos sobre futebol e ele revelou que estava escrevendo com um amigo sobre a Copa do Mundo no Brasil. Não me disse, porém, para quem estava torcendo (“Não dá pra falar isso pra uma brasileira!”). Chuto que era para a Argentina — país que ele sonhava em conhecer e que daria nome à série “Minha Luta”. Não polemizamos e terminamos a conversa em bons termos. Pensei em dizer que eu gostava muito do trabalho dele, mas uma das primeiras lições que recebi como trainee de jornalismo foi: “Não bata palmas em um jogo de futebol se você estiver trabalhando”. Transferindo a lição para o jornalismo cultural, achei que não era de bom tom eu me revelar assim para a fonte, mesmo que não tivesse ninguém ali para presenciar e mesmo que provavelmente eu nunca mais fosse falar com ele de novo. Quando minhas previsões no futebol se concretizaram e as dele caíram por terra, pensei em escrever um e-mail. Não o fiz.
***
Três anos depois de ter cancelado sua vinda à Flip, Karl Ove veio a Paraty. Cruzei com ele a primeira vez no hotel em que ele estava hospedado com seu filho, John. Eu saía de uma entrevista coletiva com Misha Glenny quando um jornalista à minha frente esbarrou em um homem alto, de camisa de manga comprida, de cor clara como suas calças. “Sorry”, disse ele. Levantei os olhos para ver quem era e fiquei em choque: Karl Ove Knausgard, o próprio. Mais alto do que eu imaginava, bastante imponente. Nos segundos que levei para me recuperar da surpresa e voltar a fazer sinapses, ele já tinha desaparecido. Tudo bem, horas mais tarde seria a vez da coletiva dele.
A sala estava bem mais cheia na entrevista de Karl Ove que na de Misha Glenny. Dessa vez vestido de preto, entrou sorrindo, cumprimentando todos que estavam ali. Durante uma hora, interrompida pela organização do evento, Karl Ove falou sobre literatura, Brexit e, claro, o 7 a 1 que levamos da Alemanha. A bem da verdade, quando você lê todas as entrevistas com Karl Ove que aparecem pela frente as novidades já não são muitas. Todo o mundo quer saber de “Minha Luta”, a obra que provavelmente o definirá para sempre.
Sobre como consegue lembrar de tantos detalhes sobre a sua vida, desde a infância, ele é sincero: “Quando comecei, a premissa era de que tudo devia ser verdade. Tinha que ter vivido tudo que escrevi, não devia inventar nada. Mas, ao mesmo tempo, não fiz pesquisa alguma. Queria escrever um livro sobre memória, sobre o que tinha na minha cabeça. Há coisas nos livros que tem gente que me disse que nunca aconteceu, ou não aconteceu daquele jeito, e estão lá. Queria explorar a memória. Há detalhes romanceados, que inventei”. Em suma, em suas próprias palavras, trata-se de um romance não ficcional. Tudo é verdade, mas uma verdade subjetiva.
Seu principal tema de interesse é a noção de identidade, em todas suas formas: nacional, pessoal, sexual, masculina… Criamos imagens de nós mesmos como se estivéssemos contando uma história. Quando falamos de nós para alguém, há toda uma narrativa por trás. Tudo é organizado por histórias, mas ao mesmo tempo a vida é muito mais complexa que isso. Vida e narrativa: as duas estão em constante batalha em sua obra. Durante anos, aliás, tentou escrever sem êxito, sem conseguir colocar para fora aquilo que tinha dentro de si. Foi quando conseguiu desaparecer na escrita, aos 26 anos, que as coisas começaram a dar certo. “Não sei como aconteceu, mas era como se eu sumisse na escrita. Não percebia a mim mesmo. É a experiência que você tem quando lê um livro muito bom, mergulha nele e desaparece. Você faz isso mesmo quando escreve sobre si.” Ao mesmo tempo em que conta uma história muito pessoal, fala de algo que vai além dele. “É muito estranho, mas é o mais alto que você chega como escritor. É quase budista. A sensação é ótima.”
Quando começou a escrever “Minha Luta”, achou que ninguém — nem seus amigos — teria interesse em ler algo tão narcisista. Era só algo pessoal que ele tinha que escrever. “Mas quando me encontro com leitores eles sempre falam de si, sempre sobre algo que apareceu na leitura que está conectado a eles. Percebi que somos muito mais parecidos do que achamos”, afirma. Seus livros, diz, não são sobre sua vida. “É uma vida bem comum, não fiz nada de muito espetacular. Os livros são uma forma de explorar, de tentar entender, e isso é o que um romance faz. Então os chamo de romances. Posso escrever 20 páginas sobre mascar chiclete, se isso me interessar. Você não leria isso numa autobiografia de um político”, fala. “Por que ler um livro sobre a vida do cara?”, perguntou meu irmão. Karl Ove responde, com mais eloquência que eu: “É o mesmo que ler Marcel Proust. A vida dele é um lugar em que todo o tempo e a cultura acontecem. Ele escreve sobre arte, música, sociedade. Pra mim, a vida dele é chata e pouco interessante. Mas seus livros não são”.
Escrever “bonito” não era uma preocupação, afirma. O que importa é ser livre na escrita, escapar de todas as regras de “isso pode, isso não pode”. A literatura é o único lugar onde se pode experimentar de tudo, desafiar as normas, e a pior coisa que ele conhece é a crítica moralista. Conta que às vezes fica irritado lendo alguma coisa, mas se lembra de que, quando lê, é a voz do autor que ecoa em sua cabeça e é essa voz que ele tem que obedecer. Não cabe a ele julgar.
Mesmo afirmando que boa escrita não é fundamental, repete o que disse à Paris Review sobre as primeiras páginas do primeiro livro da série — foram as mais trabalhosas e as melhores. “Trabalhei tanto tempo naquelas dez primeiras páginas. Meses. Polindo, tornando-as grande literatura. E aí falei ‘foda-se’ e só escrevi. Primeiro cinco páginas por dia, depois dez. Meu editor leu e disse que o começo era tão diferente do resto que eu devia cortar. Eu disse que de jeito nenhum, é a única parte do livro em que dá pra ver que eu sei escrever”, diz, rindo. Se você escreve rápido, tem um material mais bruto, mais direto, mas também mais cheio de clichês. Nos livros três e cinco ele utilizou estruturas mais primitivas. São volumes mais simples. “Mas não é esse o ponto, o ponto é pegar algo do meu coração e levar para o coração dos leitores e é isso.” Se para isso você precisa de clichês, vá com os clichês.
Hoje, Karl Ove vive com a mulher, Linda, e quatro filhos num vilarejo de 200 pessoas. Sua vida, basicamente, consiste em levar e buscar as crianças na escola e escrever. Como hobby, cuida de sua editora (“mas aí é literatura também”, reflete). Jogava futebol, mas onde vive agora só adolescentes jogam e ele não aguenta mais o ritmo e a correria. Então assiste a futebol na TV. Depois de tentar descrever que tipo de homem é em mais de 3 mil páginas, diz que é difícil dar uma definição assim de supetão. “Sou um homem de família. Queria fazer algo diferente, tipo ficar bêbado e fazer coisas. Sou um homem de família e odeio essa ideia. Tenho um jardim e odeio a ideia de ter um jardim. Meu pai tinha um jardim. Queria ser outra coisa, mas não sou. Estou lá e tenho aquela vida. E eu amo cuidar do jardim e ficar com meus filhos.”
Com sua editora, publica de dez a 12 livros por ano, só de coisas de que gosta (como Michel Laub, que tentou publicar, mas perdeu os direitos para outra editora). Por enquanto só gastou dinheiro, mas espera que neste ano finalmente não saia no prejuízo. Termina agora uma série de quatro livros, cada um com o nome de uma estação do ano. Os dois primeiros são de textos curtos, explicando para a filha que ainda não tinha nascido no início do projeto várias coisas, numa espécie de enciclopédia de objetos e sentimentos. O terceiro é um romance, “muito sobre o amor”. O quarto, “Verão”, ele ainda está escrevendo. A ideia era não falar de si nem de sua família, mas não deu muito certo. “Não deu pra evitar, e está sendo sofrido de novo. Mas esta é a última vez.”
Karl Ove menciona o livro sobre a Copa do Mundo, sobre o qual me falou brevemente dois anos atrás. O volume é resultado de uma troca de correspondência entre ele e um amigo. Karl Ove escrevia sobre “os times de que vocês não gostam: Argentina, Itália”, conta, antes de perguntar para que times europeus torcemos no Brasil. Portugal?, chuta. Também ficou traumatizado com o 7 a 1. “Eu não queria assistir, doía. Foi uma tragédia. Era uma grande história: era aqui, tinha o Neymar, tinha um fantasma do passado. E acontece isso. Nunca tinha visto um time desse tamanho colapsar completamente. Minha mulher até saiu da sala. Eu senti quase como se não fosse mais esporte, como se fosse outra coisa. Deve ter sido muito difícil.” Depois dessa, Karl Ove foi embora.
***
Do intervalo entre sua entrevista coletiva, na tarde de quinta, e sua mesa na Flip, na tarde de sexta, só soube de pedaços daquilo que ele fez. Alguém disse que o viu comendo com o filho num restaurante na beira do rio, com o cardápio bem levantado em frente ao rosto, como que para se esconder. Na fila para a mesa de Henry Marsh — neurocirurgião cujas operações Karl Ove viu para escrever um texto — outro amigo o viu passar sozinho e tirou uma selfie com ele. Uma amiga o flagrou de bermuda pela cidade e outra o encontrou a caminho de sua mesa na sexta. Na noite de quinta seu nome estava na lista para uma festa lotada, mas ele não apareceu.
Uma hora antes de sua mesa começar, as cadeiras posicionadas em frente ao telão, nos fundos da tenda dos autores, estavam praticamente todas ocupadas — embora boa parte das pessoas ali não soubesse direito quem ele era. “É um holandês”, disse alguém. “Poxa, não vai dar pra entender nada”, respondeu a mulher ao lado. Assistir às mesas do lado de fora, com as pessoas que não compraram ingresso, é uma experiência engraçada — melhor, em certo sentido, que ver a palestra na área de imprensa, rodeado por outros jornalistas empenhados em registrar o máximo possível de frases ditas no computador. Se a mesa é ruim, as pessoas se distraem, levantam e vão embora, ou falam ao celular. Quando a conversa dá certo, o público bate palmas para o telão, o que não faz muito sentido se você parar pra pensar. Então dá para sentir melhor a recepção da coisa. Karl Ove esteve na segunda categoria.
Entre algumas perguntas originais (Karl Ove não experimentou cachaça, informação nova pra mim), várias questões repetidas, que eu mesma havia feito dois anos atrás: como ele se lembra de tudo o que aconteceu?, o quanto daquilo é ficção?, como foi lidar com a repercussão, principalmente na família?, mas ele não tem vergonha de se expor tanto?, o título “Minha Luta”, dividido com o livro de Adolf Hitler, foi uma provocação? Dá pra ter uma ideia.
Mas se você quiser um resumo do que é Karl Ove Knausgard, se quiser explicar para alguém qual é a dele, por que alguém deveria se dar ao trabalho de ler sobre a vida normal de um norueguês, ouvir o que ele disse na Flip é uma grande oportunidade — aliás, ele revelou dias depois, em São Paulo, que essa é sua última turnê mundial para promover “Minha Luta”, então é bom aproveitar. Como alguém que escreve, sempre me intriga ao conversar com escritores sobre aquilo que os leva a escrever, sobre os temas que os interessam, sobre como ter coragem de se expor assim para o mundo em palavras que ficam para sempre, sobre o que constitui uma boa escrita.
“A motivação por trás da escrita é chegar a algo que você não sabia antes. Se você escreve algo e reconhece o que está na página, provavelmente não é muito bom. Se você chega a alguma coisa que não tinha visto, aí está a escrita, é por isso que você escreve. Isso também é leitura, você não quer ler algo em que já pensou. Como é possível, escrever algo e não reconhecer, dizer ‘não sou eu’? É um presente dos céus? Não. Literatura é isso, linguagem é isso, fora de nós. Se você se joga nisso, muda. Você se vê de uma maneira diferente. Aí você está escrevendo. É estranho, quando você escreve sobre si acha que não há nada que não saiba, mas 90% do que sai é de coisas sobre você que você não sabia”, diz. “No fim, não era eu. Eu estava escrevendo um romance. É por isso que pude ser tão duro comigo mesmo, revelar meus segredos. O objetivo era o livro.”
Contar as coisas como elas são não é o motivo mais nobre do mundo e, como escritor, ele sente uma dificuldade em conciliar a vontade de ser uma boa pessoa com a busca pela verdade. “É o que torna fazer isso tão difícil. Quando o que você sacrifica não é você, e sim pertence a outra pessoa… Você está tomando algo de alguém para si. Literatura é uma das coisas mais importantes que temos, mas não funciona no nível pessoal. Você passa por isso todos os dias quando é escritor. Se você tem um amigo que passa por alguma coisa muito importante e você toma isso pra você e escreve… Não é algo que uma pessoa boa faria.”
Ao escrever “Minha Luta”, não pensou nas consequências. Nem pensou que fosse ser publicado, na verdade. Mas quando o livro saiu e 10% da população norueguesa o comprou, viu que tudo tinha mudado. “Fiquei deprimido porque tinha vendido, tinha vendido minha família, minha alma, tudo que eu tinha. Aí tentei nunca pensar nisso, fingir que nunca tinha acontecido. Venho aqui e penso que ninguém me leu. Fico em negação. E funciona.” Mas o fato é que houve reações, “consequências morais”. Seu tio ficou cheio de raiva e quis processá-lo. “Ele é o irmão do meu pai, era como se ele tivesse voltado. Foi terrível, mas eu fiz algo para ele.” A pressão da mídia foi outra consequência. Sua mulher teve uma crise e foi internada antes do fim da série — fato que entrou no último volume. “Foi incrivelmente triste, e tive que escrever sobre isso de novo. Por quê? Porque sabia que seria bom, foi tão terrível assim.” Por isso, a última frase da série diz que ele deixará de ser escritor, porque a dor era muito grande. Não deu exatamente certo.
Karl Ove sente culpa, mas tenta lidar com ela. Sente culpa por causa dos filhos, que vão crescer estando naqueles livros, apesar de não se arrepender de nada que está escrito. “É, de alguma forma, imoral escrever sobre os outros. Mas se você vai escrever sobre sua vida, não dá pra falar só de você, porque viver é se relacionar com outros. É uma posição difícil de estar. Não posso falar que meu livro é mais importante que a sua vida, mas de algum jeito eu o fiz”, fala. Foi uma experiência autodestrutiva, que começou porque ele se sentia frustrado, bravo, como se não tivesse nada a perder. “Eu podia ter deixado minha família, poderia ter feito várias coisas, mas escrevi um livro. Eu não ligava”, diz.
Linda, sua mulher, também é escritora e só pediu para que ele não a retratasse como uma chata. Quando ele lhe deu um manuscrito, ela estava num trem, e primeiro ligou para dizer que aquilo era terrível, mas que ela poderia viver com isso. Depois, ligou mais brava. Na terceira vez, estava chorando. “Mas o problema não era o livro, era o relacionamento. Então conversamos por dias.” Escrever esses livros foi a pior coisa que poderia ter feito, mas ao mesmo tempo foi libertador. “Foi ok, não foi perigoso. As pessoas ficaram bravas, mas ninguém morreu, ninguém se matou.”
Mais do que expor os outros, Karl Ove expôs muito de si, incluindo coisas de que tem vergonha, como o fato de que não tinha se masturbado até os 19 anos, que não tinha dividido com ninguém. Quando contou a um amigo, ouviu dez minutos de risada e achou que não desse pra ficar pior. “Mas ainda tenho vergonha”, diz, rindo. “Ao escrever você tem que ser completamente livre e dizer as coisas mais estúpidas. Vergonha é um tópico nos meus romances desde o comecinho. Se você se interessa por identidade, tem que se interessar pela vergonha.”
Falhar é importante, parte do processo. “A primeira parte dessa história foi passar dez anos tentando escrever, sem sucesso. Quase todo trabalho envolve falhar, falhar, falhar, falhar. Se você pensa em música, se você quer improvisar você tem que ensaiar todos os dias, até fazer sem pensar. Também é verdade na literatura. Pensar é superestimado. Sei coisas intuitivamente porque o faço há muito tempo.”
“O maior desafio é ser honesto, de verdade, e não se repetir. É muito difícil, especialmente se você é bem-sucedido. É por isso que admiro tanto David Bowie. Ziggy Stardust foi um sucesso, e aí o que ele faz? Algo completamente diferente. Isso é muito corajoso”. O importante é continuar. “Às vezes acredito no hype, que fiz algo bom. Depois abro esse livro e penso que não, que tenho que fazer melhor. É assim que lido com isso.”
***
Isenção é importante no jornalismo, mas é impossível pedir para qualquer pessoa que não tenha paixões — por times, ideologias, gêneros de filmes ou autores. Então, desde que a paixão não seja cega e o senso crítico permaneça, não tem problema escrever sobre algo de que você gosta. Eventualmente vai acontecer. Mas desde que liguei para Karl Ove pela primeira vez e decidi por não dizer “ei, gosto muito do seu trabalho” e encerrei com o “obrigada pela entrevista” de praxe me perguntei se teria alguma diferença ou não eu ter falado isso pra ele. Afinal, eu já gostava dele e seria impossível tirar isso de mim pra escrever. Faria alguma diferença ele saber?
Mas sem muito tempo para refletir quando tive a oportunidade de dizer alguma coisa para ele em Paraty, segui um de seus conselhos (“pensar é superestimado”) e disse que, dois anos atrás, a gente tinha conversado e eu tinha me arrependido de não ter dito que eu realmente amava os livros dele. Ele deu uma risadinha e disse algo como “poxa, obrigado, isso é muito legal da sua parte!”. Pensando bem a respeito (agora sim), se há uma coisa que a saga de Karl Ove nos ensina é que escrever de um ponto de vista pessoal, sentindo alguma conexão com o seu tema, é bom. Escrever é transformar aquilo que é extremamente pessoal em uma coisa que já não é mais você. No fim das contas, se pudesse dizer algo mais a ele, o agradeceria por essa lição. Mas sempre teremos junho do próximo ano.