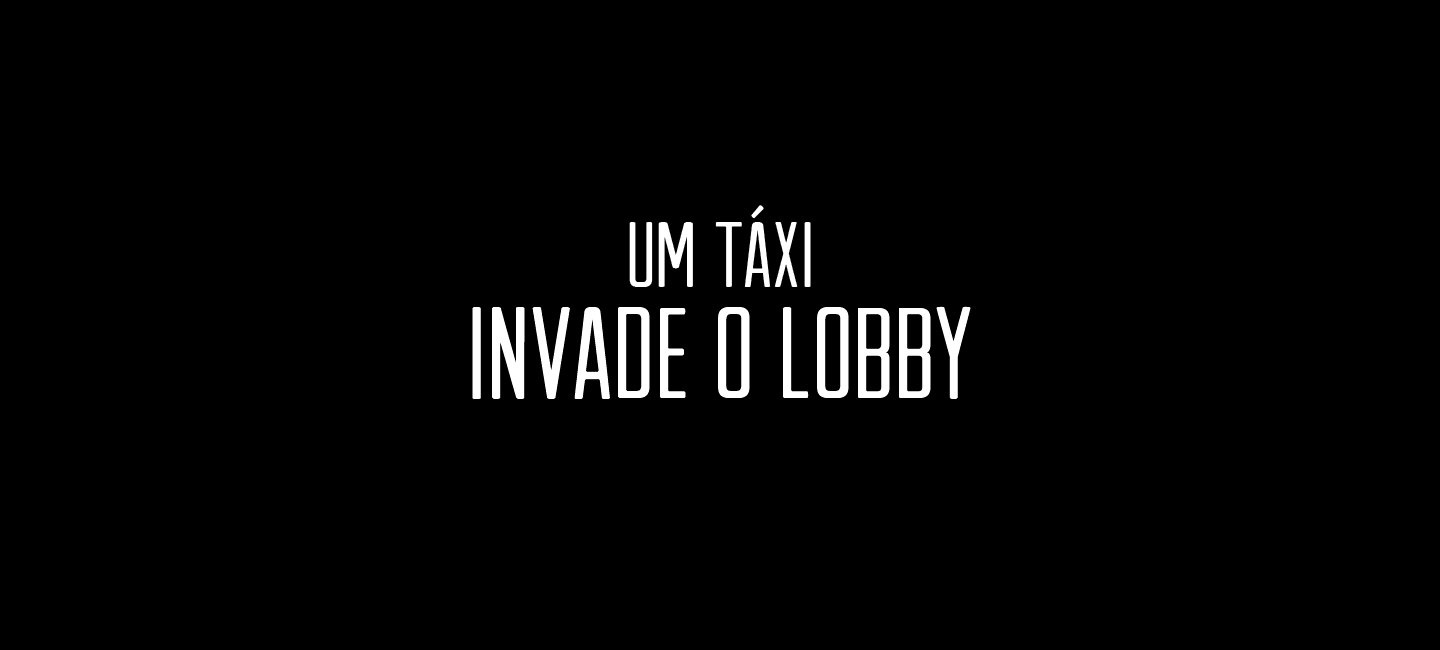O relógio na parede do luxuoso hotel Plaza São Rafael tinha acabado de marcar 21h30 naquela sexta-feira de julho, quando um estrondo surpreendeu hóspedes e funcionários. Um táxi vermelho havia colidido com a porta da frente do estabelecimento, cobrindo o tapete xadrez com cacos de vidro. O veículo avançou lobby a dentro e só parou quando alcançou o balcão do hall de entrada. Após alguns segundos, um homem quebrou uma janela lateral do táxi e começou a atirar com uma arma de fogo em direção à entrada do hotel. Policiais que seguiam o carro de perto atiraram de volta. No meio do fogo cruzado, pessoas que estavam no lobby entraram em pânico. Os seus gritos abafaram o jazz suave que saía dos alto-falantes.
Para entender como um hotel luxuoso virou alvo de bandidos, voltemos ao dia anterior, 7 de julho de 1994. Por volta das 15h30, o presidiário Vladimir Santana da Silva, de 28 anos, caminhava por um dos corredores úmidos do Presídio Central, ou “Casarão”, como os presos chamam o complexo prisional localizado em Porto Alegre, um dos maiores do Brasil. Sarará da Vó, como era conhecido, havia se submetido a uma sessão de fisioterapia para o seu cotovelo, na ala do Hospital Penitenciário. No caminho de volta para a sua cela, cruzou com uma freira amiga dos presos e implorou para que ela marcasse uma reunião entre ele e o diretor do hospital, Claudinei dos Santos. “Tenho um assunto urgente para tratar com ele”, disse. A religiosa acatou o pedido. E assim que Sarará da Vó entrou no escritório do diretor, sacou uma arma de fabricação artesanal de dentro da tipoia que cobria o seu braço e pressionou-a contra o peito de Santos.
“O padrinho tá rendido! Ta rendido!”, disse.
Em seguida, outro preso adentrou o escritório, arrastando um guarda penitenciário sob a mira de uma arma. Era Fernando Rodolfo Dias, o Fernandinho, que com apenas 22 anos cumpria pena por roubo, tráfico de drogas e estelionato. Portador de HIV, Fernandinho já era conhecido dos médicos e enfermeiros do Hospital Penitenciário. Mas, naquele dia, surpreendeu a todos ao roubar a arma de um guarda distraído e fazê-lo de refém. A dupla não tinha tempo a perder. Deixaram o diretor e o guarda penitenciário de lado e começaram a retirar as almofadas do sofá do escritório, até encontrarem duas armas de fogo e várias munições socadas na lateral do móvel. O diretor não conseguia acreditar na cena que se desenrolava na frente dos seus olhos. Como que os presos sabiam sobre o seu esconderijo?
[imagem_full]

[/imagem_full]
Ao mesmo tempo, na sala de triagem do Hospital Penitenciário, Pedro Ronaldo Inácio, o Bugigão, recebia atendimento médico por ter vomitado sangue dentro de sua cela. Aos 33 anos, o detento estava preso por lesão corporal, estupro e assalto a banco. Mostrando uma vitalidade repentina, o doente levantou e sacou um trabuco da roupa, ameaçando os profissionais de saúde e assumindo o controle da sala. Outros presos aproveitaram a confusão para roubar as pistolas dos agentes penitenciários que guardavam o local. E, sob o comando do Bugigão, forçaram os mesmos guardas a abrirem os seus armários pessoais, de onde tiraram ainda mais armas e munições. (Mais tarde, Bugigão confessou ter fingido o mal-estar ao encher as bochechas com sangue extraído dos próprios braços.)
Ao todo, Sarará da Vó, Fernandinho, Bugigão e outros presos fizeram 27 funcionários reféns naquele dia. As vítimas foram levadas para o segundo andar do Hospital Penitenciário. O local não foi escolhido à toa. Naquele pavimento, um longo corredor ligava o Hospital Penitenciário à saída do complexo prisional. Não demorou muito para que a notícia sobre o motim se espalhasse. O promotor André Luiz Villarinho, diretor do Departamento de Estabelecimentos Penais do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a chegar no local para avaliar a situação. Ao abordar os amotinados, ouviu deles a sua primeira exigência: queriam que dois presos de outra ala do complexo prisional fossem trazidos para o bando de amotinados. Um deles era o assaltante Carlos Jefferson Souza Santos, o Bicudo, de 23 anos. Ele havia sido escolhido porque sabia lidar com reféns. Certa vez foi surpreendido por policiais enquanto roubava uma videolocadora e ficou várias horas negociando a liberação de vítimas com policiais.
Villarinho, que sem querer se viu na posição de negociador, aceitou o pedido dos amotinados. Em troca, os bandidos libertaram o primeiro refém – uma secretária do Hospital Penitenciário, que tinha passado mal devido ao nervosismo. Entre os rebelados, Bicudo logo assumiu o comando das negociações e fez uma segunda exigência, desta vez mais audaciosa. Os criminosos queriam que dois detentos de outra cadeia fossem transferidos para o Casarão. Os escolhidos estavam cumprindo pena na PASC, uma prisão de segurança máxima localizada em Charqueadas, município a 58 km de Porto Alegre. Um deles era Dilonei Melara, um dos criminosos mais perigosos da região. Alto, magro e com cabelo grisalho, aos 36 anos era considerado um grande líder pelos criminosos do Rio Grande do Sul, por ter fundado a primeira facção criminosa gaúcha, a Falange. Melara estava cumprindo 65 anos de prisão por assaltos a bancos e havia tentado escapar de presídios em diversas ocasiões. O outro presidiário era Celestino Linn, 37 anos, amigo e parceiro de crime do Melara que cumpria uma pena de 30 anos por assalto à mão armada e lesões corporais. Juntos, os dois já tinham aprontado bastante. Em 1983, libertaram um condenado enquanto ele estava sendo transferido entre prisões dentro de um ônibus. Durante a operação cinematográfica, mataram dois policiais.
Villarinho se deu conta que a negociação estava ficando complicada e resolveu consultar a cúpula do governo estadual. O governador da época, Alceu Collares, retornou às pressas de uma reunião em Brasília e criou uma força-tarefa para administrar o motim. À noite, o grupo se reuniu no Presídio Central com autoridade para tomar decisões. Marcos Rolim, deputado estadual na época e um dos membros da força-tarefa, ofereceu-se para intermediar o diálogo com os presidiários. Aos 34 anos, ele já tinha uma trajetória como militante dos direitos humanos e estava acostumado a conversar com encarcerados. Mas, por volta das 2h da manhã, até mesmo Rolim se surpreendeu quando os amotinados articularam a sua terceira e última exigência: queriam que três carros fossem disponibilizados em frente ao presídio para que pudessem fugir assim que os colegas chegassem da PASC.
A força tarefa passou o dia seguinte considerando as opções. Eles podiam ordenar que policiais de elite invadissem o local e dominassem os insurgentes à força. “Mas nós descartamos essa alternativa”, Rolim me disse recentemente. Hoje o ex-deputado é doutor em Sociologia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e especialista em jovens violentos. A ação teria causado dezenas de mortes, acredita. Não apenas dos amotinados, mas também dos reféns e dos presos que estavam lá apenas recebendo tratamento médico. “A nossa única opção era aceitar as condições da negociação.”
[imagem_full]

[/imagem_full]
No fim da tarde, Rolim se deslocou para Charqueadas com a missão de buscar Melara e Linn. Melara estava animado. Ele tinha passado dois meses orquestrando o motim no Presídio Central e agora tudo corria de acordo com o planejado. Finalmente ele realizava um sonho antigo: sair da prisão de segurança máxima sem algemas e pela porta da frente. Com a chegada da noite, o então deputado escoltou a dupla de criminosos para dentro do Casarão, e por ter cumprido com a segunda exigência dos detentos, conseguiu negociar a liberdade de sete mulheres reféns. Mais tarde, confessou que estava com medo de que os presos as estuprassem como forma de pressionar as autoridades – ou até mesmo por tédio. Afinal, eles estavam amotinados há mais de 24 horas.
A libertação das reféns deu ânimo para a força-tarefa, mas ainda havia a terceira e última exigência: será que deveriam providenciar carros de fuga para os criminosos? Impacientes, os presidiários pressionaram colocando álcool em colchões e ameaçando atear fogo nos reféns. Após muitas horas de intensa discussão, a comissão decidiu que sim, iriam ajudá-los a sair do Presídio Central, mas com um porém: secretamente iriam sabotar os automóveis. O plano era mexer com a mecânica dos carros para que os fugitivos não conseguissem chegar muito longe. A polícia ainda colocaria GPS nos veículos para seguir o grupo de helicóptero. Assim que libertassem os reféns, os policiais iriam se aproximar e prendê-los.
[olho]Melara finalmente realizava um sonho antigo: sair da prisão de segurança máxima sem algemas e pela porta da frente[/olho]
Às 21h05, a preparação para a saída dos amotinados estava completa. Três Gols na cor verde metálico foram estacionados na frente do Casarão. Sem pressa, os fugitivos desceram o longo corredor do Hospital Penitenciário até a saída, levando junto os seus reféns. Repórteres noticiavam cada passo ao vivo no rádio. Os presos forçaram os reféns a segurar cobertores sobre as cabeças de todos, para que atiradores de elite não conseguissem distinguir quem eram os criminosos. Dez reféns entraram nos três Gols sabotados. Os outros formaram um cordão humano em volta dos carros, para que a polícia não conseguisse atirar contra grupo enquanto saíam.
Os carros arrancaram cantando pneu. Mas, em vez de seguir o plano que havia sido elaborado pela força-tarefa, policiais começaram a atirar nos carros e perseguí-los quase imediatamente. “Um delegado com sede de vingança deu uma ordem para que os policiais já saíssem atirando atrás dos veículos”, relembra Rolim. “Mas foi uma péssima ideia. Ele colocou em risco a segurança dos reféns e de todos os cidadãos de Porto Alegre.”
Os fugitivos saíram em direções opostas, com a polícia logo atrás. A fuga em alta velocidade foi relatada em tempo real pelas redes de rádio e televisão. Famílias trancaram as portas, motoristas tiraram os carros das ruas, e comerciantes baixaram as grades. Todos ligados no AM.
Um dos carros foi para a zona leste, mas não chegou muito longe. Com um pneu furado, foi perdendo velocidade até parar no meio de uma rua de chão batido. Ao invés de se entregar, os fugitivos responderam com fogo. A policia revidou. No meio do tiroteio, o refém Edilei Souza dos Santos (filho do diretor Claudinei dos Santos) foi atingido por 11 balas. Ele sobreviveu, embora tenha ficado com graves sequelas. Outros dois reféns conseguiram escapar ilesos, e os três criminosos dentro do veículo foram mortos com um total de 21 tiros.
O segundo carro seguiu para a zona norte. Após alguns quilômetros, o fugitivo que estava no volante, Luiz Paulo Schardozin Pereira, 29 anos, bateu o carro em um poste de luz. Depois do acidente, Chardozinho, como era conhecido, correu na direção do Shopping Iguatemi. Um segurança particular do estabelecimento notou o seu comportamento estranho e ordenou que se deitasse no chão e se entregasse (depois dessa história ele virou um herói no trabalho). Outros dois insurgentes fugiram na direção de um matagal das redondezas e só foram capturados pela polícia semanas depois.
O terceiro e último carro parou de funcionar não muito longe do Presídio Central graças à sabotagem da polícia. O motorista era Bicudo, que entrou em pânico e saiu correndo, conquistando a tão sonhada liberdade. Mas sua felicidade durou pouco tempo. Dez dias depois ele foi baleado e morto pela polícia ao tentar roubar um banco. Os outros três integrantes do carro, Melara, Linn e Fernandinho, ainda resistiram, trocando tiros com a polícia. O diretor do Hospital Penitenciário, Claudinei dos Santos, que estava dentro do Gol, foi atingido com uma bala nas costas e foi empurrado para fora do veículo. O tiro lhe deixou paraplégico. Outra bala atingiu um policial que se aproximava do automóvel, que morreu na hora. Desesperados, os três foragidos pegaram um carro da imprensa, que acompanhava a situação de perto. Eles continuaram a fugir pela cidade com três reféns – duas mulheres e um homem. Mas, devido a problemas mecânicos, ainda trocaram de carro duas vezes até entrar em um táxi vermelho. Sem saber para onde ir, Melara apontou a arma para a cabeça do taxista e mandou ele acelerar até o hotel mais chique da cidade, o Plaza São Rafael. Ao chegar em frente ao estabelecimento disse: “Tu vai te dar mal, cara, se não derrubares essa merda de porta”.
Após a batida, o motorista do táxi abriu a porta do carro e correu em direção a polícia, que vinha logo atrás. Com as mãos no ar, ele implorou aos policiais que não atirassem. A balas zuniam de lado a lado pelo saguão revestido de granito. Os três fugitivos se encaminharam para o fundo do lobby, mantendo seus reféns como escudo. Naquela noite, o Plaza São Rafael sediava uma conferência sobre depressão, com a presença dos psiquiatras mais respeitados do Brasil. Após um dia de palestras, os médicos estavam jantando na sala de conferências quando foram surpreendidos pelo trio que chegava de arma em punho. Eles interromperam as garfadas e se esconderam embaixo das mesas.
Melara e Fernandinho pouco notaram os psiquiatras e subiram as escadas para o bar do mezanino, arrastando com eles duas reféns. Linn se encostou numa das paredes da sala de conferências e improvisou uma barricada com as mesas. Como ele já havia perdido o seu refém, agarrou alguns médicos que estavam ao redor. Os policiais entraram no saguão se arrastando e chegaram bem perto da barricada de Linn. Assim que teve uma oportunidade, um PM atirou no rosto do fugitivo. A bala passou de raspão, mas foi o suficiente para desnorteá-lo. Capturado, Linn foi escoltado para fora do hotel por policiais orgulhosos, como se exibissem uma presa rara. Dois dias depois, ele foi encontrado morto na sua cama de hospital com quatro tiros.
Melara e Fernandinho permaneceram no mezanino por mais 13 horas e fizeram mais uma refém, uma secretária do hotel. Mas, com o passar do tempo, sem água, comida e munição, ficaram exaustos. A dupla de criminosos finalmente se entregou quando o desembargador Décio Antônio Érpen, que estava no comando das negociações, disse que a seleção brasileira estava prestes a entrar em campo contra a Holanda pelas quartas de finais da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E ele não queria perder esse jogo. Melara e Linn concordaram em sair do hotel com duas condições: eles queriam sair com coletes à prova de bala e pediram para retornar à PASC – a prisão de segurança máxima, onde achavam que estariam seguros de retaliações. Eles temiam que os agentes penitenciários do Casarão os executassem por terem causado tamanho distúrbio. A precaução deu certo. Melara viveu até 2005, quando foi assassinado, ao que tudo indica, por um criminoso rival. E Fernandinho morreu devido a uma doença desconhecida em 2008.
As 48 horas de caos deixaram um grande trauma em Porto Alegre. Durante várias semanas, o acontecimento estampou as páginas dos jornais e serviu como tema de discussões políticas. Algumas pessoas criticaram os membros da força tarefa por terem concordado com as exigências dos fugitivos. Outros avaliaram que era a melhor opção. “Concordando ou não, a população ficou apavorada com o fato que os criminosos mais perigosos da região conseguiram planejar e executar essa fuga de dentro da prisão”, lembra Rolim. Melara se tornou uma figura pop, citado até em música de bandas de rock.
[imagem_full] [/imagem_full]
[/imagem_full]
Sete meses depois, era carnaval. Mal sabiam os foliões que, enquanto dançavam uma marchinha, um grupo de presidiários do Casarão cavava pacientemente um buraco na parede da terceira galeria do pavilhão D, usando apenas ferramentas artesanais. Assim que o túnel ficou largo o bastante, em 27 de fevereiro de 1995, segunda-feira de Carnaval, 45 presos saíram para o lado de fora do prédio e escalaram até o telhado. O grupo, liderado pelo presidiário de 24 anos Paulo Vicente Lauffer da Silva, o Porquinho, estava preparado para a fuga. Levaram consigo jiboias – cordas trançadas a partir de roupas e lençóis – para descer o muro externo do presídio. “Parecia um monte de homens-aranhas”, disse uma testemunha, na época, ao jornal Zero Hora. Pelo menos um dos fugitivos não conseguiu se segurar da corda e caiu da altura de 8 metros direto na calçada, quebrando as duas pernas. Os outros presos abandonaram o companheiro e fugiram na direção do Morro da Polícia, que fica atrás do presídio.
Duzentos policiais foram deslocados para caçar os foragidos a pé, enquanto um helicóptero e um pequeno avião patrulhavam a área. Era fácil de identificar os presos – as suas roupas estavam sujas e rasgadas. A polícia tinha a ordem de capturá-los a qualquer preço, então já passaram a atirar nas suas pernas para que não conseguissem correr. Alguns dos fugitivos portavam armas e atiraram de volta, mas, no fim do dia, 23 condenados foram trazidos de volta para o presídio, e muitos outros foram capturados nas semanas seguintes.
O Presídio Central nunca havia sido considerado uma instituição de ponta – muito pelo contrário. Desde a sua construção, em 1959, a instituição nunca funcionou de acordo com o plano original. A prisão deveria ter uma infraestrutura sofisticada, mas o governo gaúcho só teve dinheiro para construir metade dos prédios previstos na planta. O presídio foi inaugurado mesmo assim em 1962, com cinco pavilhões de três andares cada, com a capacidade de abrigar 660 presos. Com o passar dos anos, as celas ficaram superlotadas, chegando ao ponto de superar em quatro vezes a sua capacidade. Como consequência, os presidiários foram ficando cada vez mais inquietos. E, a partir dos anos 1980, encontraram um jeito de se organizar para expressar a sua frustração através de uma série de motins e tentativas de fuga. O Presídio Central virou uma panela de pressão. “Quando os presos não aguentavam mais as condições do presídio, eles explodiam. Isso fazia com que o governo tomasse medidas para melhorar a situação, e a pressão baixava. Mas aos poucos ia subindo novamente”, conta Rolim.
[olho]O Presídio Central virou uma panela de pressão[/olho]
Em 1995, depois que presos organizados conseguiram escapar duas vezes do Presídio Central em 7 meses, o sentimento geral era que o Estado tinha perdido o controle sobre o presídio. Em uma carta ao jornal Zero Hora, publicada em março daquele ano, uma leitora chamada Silvana exigiu respostas das autoridades. “É possível que uma prisão com mais de mil presos tenha um só guarda externo? Como os apenados tinham armas? Como conseguiram chegar ao muro sem serem vistos?” escreveu. Para piorar, Porquinho, presidiário que liderou a fuga do Carnaval, deu uma entrevista aos repórteres locais quando foi capturado dizendo que “foi muito fácil escapar do Presídio Central”. A população ficou enfurecida.
Antônio Britto sentiu a pressão. O político filiado ao PMDB havia tomado posse recentemente como governador gaúcho e se sentiu obrigado a lidar com o problema já no segundo mês de trabalho. Britto chamou a imprensa e fez um anúncio: ele iria tomar medidas dramáticas para acabar, de uma vez por todas, com os problemas do presídio de Porto Alegre. O plano era desativar o Casarão. Mas antes, iria construir 10 novas prisões de tamanho médio em cidades próximas, para onde seriam transferidos os condenados. E, enquanto as novas prisões não saíam do papel, ao longo de seis meses, o Presídio Central passaria a ser coordenado pela Brigada Militar (a polícia militar do Rio Grande do Sul). Esses policiais, ou “brigadianos” na linguagem regional, tinham fama de bem treinados, destemidos e de respeitar a hierarquia, o que poderia ajudar a colocar ordem no Casarão até então controlado por agentes penitenciários. Inicialmente, o plano deu certo. Os novos guardas conseguiram controlar os presidiários. A cidade se sentiu mais segura, e as críticas ao governo estadual diminuíram. Mas vários anos se passaram, e as novas prisões nunca saíram do papel. A Polícia Militar continuou no comando do Presídio Central por tempo indeterminado, e outros problemas começavam a aparecer.
O presídio estava completando 30 anos de vida, e os sinais da idade já apareciam nas paredes. Rachaduras, vazamentos e problemas elétricos precisavam de conserto. Mas, como havia a promessa de que a cadeia seria demolida em breve, o governo preferia não fazer os investimentos para recuperar o Central. Enquanto isso, os presidiários passaram a reclamar dos problemas de infraestrutura (como um chuveiro quebrado, por exemplo), batendo nas paredes das celas até os pavilhões tremerem como se um terremoto tivesse atingido Porto Alegre. Durante os protestos, a Brigada Militar temia não apenas que a estrutura desabasse de vez, mas que os presidiários conseguissem forçar as grades e escapassem. Não havia guardas suficientes para conter uma multidão enfurecida. Os policiais militares chegaram à conclusão que o único jeito de manter a ordem no Central (enquanto esperavam pela demolição do presídio) era negociar uma trégua com os presos.
[olho]Para a Brigada Militar, fazer uma parceria com os presidiários era uma jogada arriscada, mas necessária[/olho]
Foi assim que em 1997, Valmir Pires, um preso que sempre foi muito amigável com os policiais, foi chamado para uma reunião com um comandante da Brigada Militar do alto escalão. Ele cumpria pena de 12 anos por roubo de carros e assalto à mão armada. Sem saber do que se tratava, o preso encontrou o comandante em um andar vazio do pavilhão C, onde recebeu uma proposta. Pires poderia se mudar para o pavilhão com um grupo de presos de sua confiança. A polícia não entraria no andar sem a sua permissão e não monitoraria as suas atividades lá dentro. Ele receberia, inclusive, as chaves das celas daquele andar. Em troca, teria de prometer que os presidiários sob o seu comando não tentariam escapar da prisão e nem realizariam motins. Além disso, teriam de manter a área limpa, organizada e realizar consertos. Afinal de contas, se iriam assumir o comando também precisavam assumir algumas responsabilidades.
Para a Brigada Militar, fazer uma parceria com os presidiários era uma jogada arriscada, mas necessária. O acordo poderia ajudar a acalmar os ânimos dentro da instituição, já que criaria uma facção nova, amiga dos policiais. A ideia era diminuir o poder dos Manos, grupo liderado por ninguém menos do que Dilonei Melara, que ganhou ainda mais prestígio entre os criminosos depois da fuga de 1994. O acordo também ajudaria a manter os policiais no comando do Presídio Central. A essa altura, os PMs não queriam abrir mão do poder e dos adicionais de salário que vinham com a atuação dentro do presídio. Pires aceitou os termos da negociação. E resolveu chamar a sua facção de Os Brasas. Logo depois, outra facção nasceu de forma espontânea: os Abertos. Agora havia três grupos criminosos dentro do Presídio Central.
[olho]O Casarão virou um grande QG do crime organizado[/olho]
Como o plano do governador Antônio Britto de demolir o Central nunca avançou, a questão ficou para o seu sucessor, Olívio Dutra, que assumiu o poder em 1999. Dutra escolheu fazer algumas reformas mais do que necessárias na infraestrutura do presídio. Para começar, fechou o Hospital Penitenciário, palco da fuga de 1994. A seção foi transformada em um novo conjunto de pavilhões, o que, por um tempo, resolveu o problema de superlotação da instituição. Mas, como a população carcerária brasileira aumenta em uma velocidade impressionante, o problema voltou.
Em 2003, um novo governador, Germano Rigotto, sentiu que não tinha outra opção a não ser voltar ao plano original, de aumentar o número de vagas em outros presídios e acabar com o Central. “Elaboramos projetos para a criação de 8.914 novas vagas nos presídios estaduais, com investimentos de R$ 170 milhões”, ele disse em entrevista ao jornal Zero Hora em julho de 2006. “A meta inicial é disponibilizar 2,6 mil novas acomodações até o final deste ano”, prometeu. Mas o prazo não foi alcançado, e o problema foi deixado para a próxima governadora, Yeda Crusius. Em 2008 ela foi bem clara sobre as suas intenções: “A decisão de implosão do Presídio Central está tomada”. Mas ela também não cumpriu a promessa e, em vez disso, construiu mais quatro pavilhões na cadeia, aumentando o número de vagas. Era uma solução muito mais barata, mas temporária.
[imagem_full]

[/imagem_full]
De certa forma, o acordo com os presidiários deu certo. Desde 1998, nunca mais houve uma tentativa de fuga no Casarão. Mas o surgimento de facções rivais trouxe outro conjunto de problemas para o governo estadual. Na virada do século, aproximadamente 30 presidiários apareciam mortos de forma violenta a cada ano dentro da instituição. Eram assassinados a tiros, com facadas, apedrejados ou de tanto apanhar. “Havia uma guerra entre os grupos rivais”, afirma Renato Dorneles, repórter que cobriu os assassinatos para o jornal Zero Hora. “Eles brigavam pelo poder e pelo domínio das galerias.”
Em 2005, com a morte de Melara, líder dos Manos, o número de assassinatos dentro do Casarão caiu dramaticamente para apenas dois por ano. A paz repentina não foi uma coincidência. Sem o velho líder, uma nova geração de presidiários se deu conta de que era melhor parar com as rixas e focar nas vantagem do poder que a Polícia Militar tinha concedido anos antes. Seguindo o exemplo de facções criminosas que atuavam em presídios do Rio de Janeiro e São Paulo, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), os criminosos resolveram usar a máquina do Presídio Central para manter operações criminosas do lado de fora do xadrez. “Eles se deram conta que permanecer em estado de guerra atrapalhava os negócios. Por isso se tornaram mais organizados e começaram a respeitar o espaço um do outro dentro da prisão”, afirma Dorneles. O Casarão virou um grande QG do crime organizado.
[imagem_full]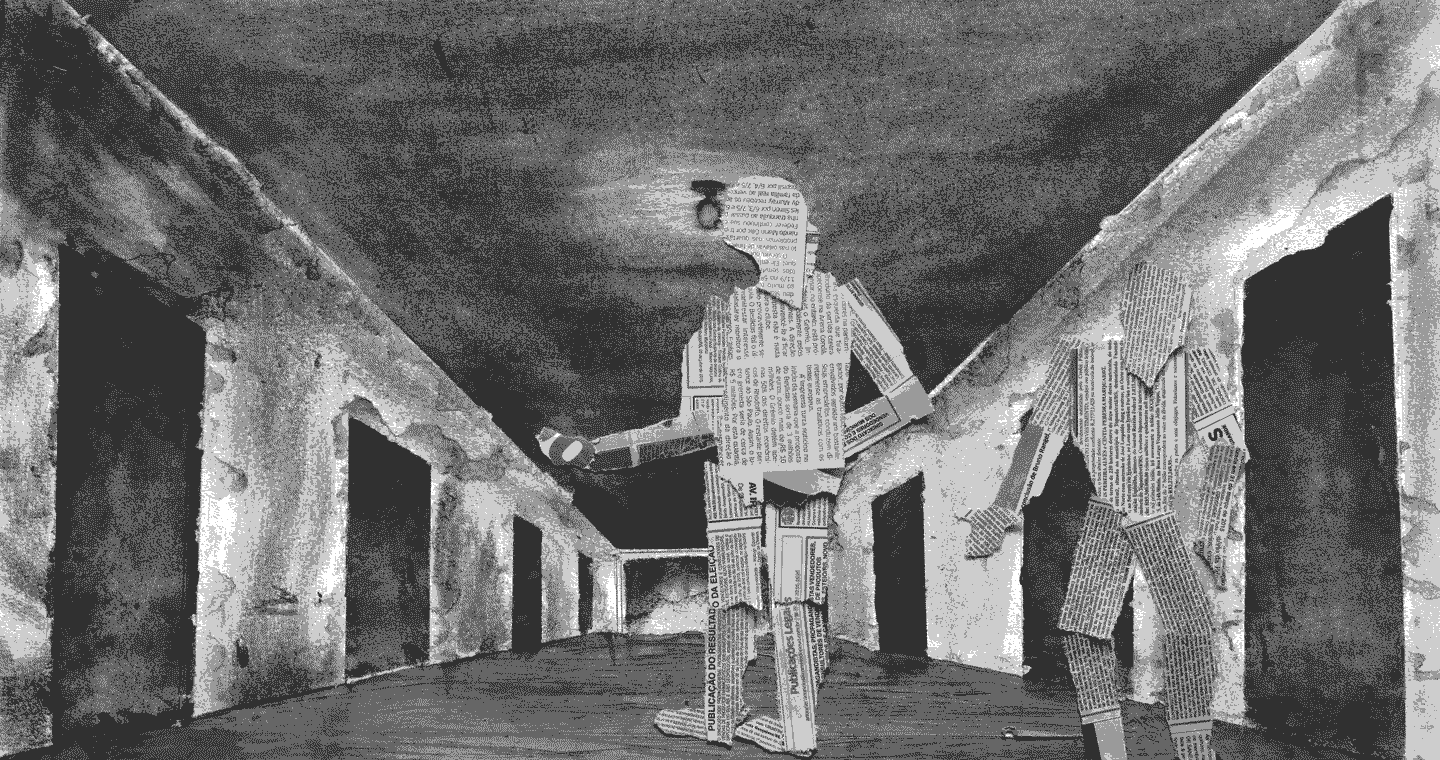
[/imagem_full]
Roberto Silva, 32 anos, olhou atentamente para o presidiário com cara de mal encarado que lhe dava as boas vindas à cela 39F. Em uma mão, ele carregava um conjunto de chaves. Na cintura, tinha um facão pendurado. O homem explicou como as coisas funcionavam dentro do Presídio Central: a Brigada Militar vigiava os muros do presídio. Mas, do lado de dentro, quem ditava as regras eram os presos. Pela primeira vez, Silva criou coragem e olhou ao seu redor, para a sua nova casa. Era um longo corredor que tinha dezenas de celas, todas abertas. Cerca de 300 presos circulavam livremente dentro e fora delas. O seu cubículo tinha oito camas de cimento para 20 condenados. Muitos tinham que dormir de valete (um para cada lado) ou em colchões no chão. O banheiro era um buraco no chão escondido atrás de duas pequenas divisórias.
“Nada te prepara para o que você vê quando entra naquele lugar”, ele me disse.
Roberto Silva nunca havia sido preso antes de 13 de outubro de 2014. Na verdade, esse não é o seu nome verdadeiro. Quando eu o entrevistei na sua casa na grande Porto Alegre, ele me pediu para usar um nome falso porque ainda espera julgamento e teme que uma entrevista possa prejudicar a sua imagem perante um juiz. “Não era essa a vida que eu queria para mim”, justificou sentado no sofá ao lado da mulher. Silva foi criado pelos avós em uma casa de classe média baixa em Bagé, no extremo sul do Brasil. Ele se formou no ensino médio, fez um curso profissionalizante de informática e serviu ao Exército. Aos 19 anos, mudou-se para Porto Alegre procurando melhores oportunidades de trabalho. Após viver de bicos, foi contratado com carteira assinada como operador de empilhadeira em uma fábrica da General Motors.
O que desviou a sua vida, acredita, foi o azar. Silva fumava até quatro baseados por dia desde que tinha 14 anos de idade. E embora a prática seja ilegal, nunca teve problema de comprar a erva para o uso pessoal. “Até que um dia fui comprar um pouco mais para um amigo e, quando eu fui dar para ele a sua parte, um carro da polícia se aproximou”, conta. Ele foi preso em flagrante, já que carregava consigo sete trouxinhas de maconha, no valor de R$ 300. E quando foi posto em frente a um juiz, foi considerado traficante de drogas. Mesmo sem antecedentes criminais, foi enviado para a prisão preventiva enquanto aguardava pelo julgamento, o que poderia demorar até um ano. “Eu só pensei: acabou a minha vida”, lembra.
Quando chegou ao Casarão, policiais avisaram que ele poderia escolher qual galeria gostaria de morar. Existem 24 galerias no presídio, sendo que cada uma é comandada por um grupo ou facção. Desde os anos 1990, o número de facções aumentou consideravelmente. Os Manos e os Abertos continuam fortes. Os Brasas adotaram um novo nome: Unidos pela Paz. E novas facções foram criadas com base em afiliações por bairros da cidade. As galerias restantes abrigam presidiários que precisam estar separados por questões de segurança: travestis, homossexuais, agressores de mulheres, pedófilos, estupradores, evangélicos, réus primários e aqueles presos que trabalham para os policiais militares. Presos com curso superior completo (apenas 15 homens em 2015) também ocupam uma ala distinta.
[olho]Cada galeria é administrada por uma “prefeitura” composta por um líder, chamado “plantão”, e seus 30 secretários[/olho]
Ao mesmo tempo, a superlotação piorou. Hoje, aproximadamente 4.266 presidiários ocupam um espaço destinado a 2.069 presos. Ou seja, o presídio funciona com mais do que o dobro da sua capacidade. E não existem indícios de que o problema irá diminuir: na média, 59 presos entram o Presídio Central todos os dias, enquanto que apenas 54 deixam o local. De acordo com estatísticas de dezembro de 2015 divulgadas pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), a maioria dos novos presos tem entre 18 e 24 anos, não completou o ensino fundamental, identifica-se como branco, e, assim como Silva, foi enviada para a prisão como medida preventiva para esperar um julgamento por tráfico de drogas. Para tentar segurar a superpopulação, ao longo de 2015 por diversas vezes a Justiça gaúcha mandou interditar a entrada de novos presos no Central, especificamente aqueles que já cumprem ou cumpriram penas. Mas a medida nunca durou muito tempo por gerar outros problemas, já que os presos acabavam lotando as celas improvisadas das delegacias da capital.
Silva ficou chocado ao observar o poder que os presidiários conquistaram dentro da prisão. Cada galeria é administrada por uma “prefeitura”, de acordo com a linguagem do Central, composta por um líder, chamado “plantão”, e seus 30 secretários. Munidos de facões na cintura, o grupo controla todos os aspectos da vida carcerária. Definem, por exemplo, quando as luzes ficam acesas, se as celas ficam abertas ou fechadas (alguns pavilhões estão caindo aos pedaços e não têm grades nas celas), quem tem direito de dormir nas camas, e até mesmo como resolver conflitos entre os presos. Os plantões também assumiram o papel de porta-voz entre os presidiários e a administração do Casarão: fazem pedidos de transferências, solicitam assistência jurídica e médica e advogam para que certos bens entrem nas galerias – como televisores, fogões a gás e ventiladores. “Eles são extremamente organizados”, afirma.
As prefeituras também mantêm uma ligação estreita com facções criminosas do lado de fora do presídio. “Os dois lados estão em contato constante através de celulares, ou através de visitas e agentes penitenciários que levam e trazem informações e mercadorias”, explica Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e especialista em segurança pública. “Já não há mais uma distinção tão grande entre os membros que estão dentro e fora. Funciona como uma rede”, afirma. Para as facções, manter tentáculos dentro do Presídio Central é extremamente benéfico e serve, inclusive, como forma de angariar novos membros. Uma tática infalível é bancar os gastos dos presos dentro da prisão – desde comida até colchão. A conta pode chegar a R$ 300 por mês, e a maioria dos presidiários não tem dinheiro para pagar. Só que existe uma cláusula contratual importante que vem com esse empréstimo: quando os presos ganham a liberdade, precisam pagar essa dívida, seja em dinheiro ou praticando crimes para a facção. Caso contrário, são mortos.
Fluxo a céu aberto
Enquanto eu esperava para entrevistar Sidinei Brzuska sobre essa liberdade conquistada pelos presos, aproximadamente 10 presidiários líderes de galerias estavam reunidos na sua sala localizada no Presídio Central. Brzuska, juiz da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, admite que faz reuniões frequentes com esses “plantões”, com o objetivo de manter uma relação pacífica entre Polícia Militar e os presidiários. Mas, nesse dia, os criminosos também tinham uma reclamação para fazer: eles não estavam felizes com o tratamento que novos guardas estavam dando para os presos. “Os guardas estavam sendo um tanto truculentos. E isso é inaceitável para eles”, ele me disse quando começamos a entrevista. Em seguida, o juiz confirmou que iria pedir para que os guardas “pegassem mais leve”. O seu trabalho, admitiu, era manter os presos felizes para a panela de pressão não estourar. Ele não gosta de fazer esse papel, mas acredita que é o único jeito de manter a ordem no Casarão. “Existe um equilíbrio frágil aqui dentro, que precisa ser mantido para garantir a segurança de todos”, justifica.
O equilíbrio é uma saia justa para o Estado. Os presos vivem de forma pacífica e não realizam fugas ou rebeliões. Mas, através do poder de ameaça, conseguiram adquirir tanto poder dentro da prisão que chegam a desenvolver as mesmas atividades criminosas que praticavam antes de serem presos. Entre elas, está a venda e o uso de drogas. “Eu costumava comprar maconha toda a hora”, Silva revelou. “Eles vendiam cocaína, maconha e crack de bandeja, inclusive nos dias de visita, e frequentemente os guardas observavam a transação sem interferir.” A atividade se tornou pública com a divulgação de um vídeo em dezembro de 2014 que mostrava dezenas de presos fazendo fila para cheirar cocaína dentro de uma das galerias. O vídeo, que virou notícia nacional, foi enviado por uma fonte de dentro da prisão para o repórter Renato Dorneles, que hoje trabalha para o jornal Diário Gaúcho.
Maconha, crack e cocaína, assim como armas e celulares, são supridas pelos membros das facções que estão do lado de fora do Central. Para eles, o Presídio Central virou um grande mercado a ser abastecido, e os lucros das vendas são divididos entre os membros que estão do lado de dentro e fora do muro. De acordo com Brzuska, os itens entram no Casarão com a ajuda de familiares. Afinal de contas, uma média de 230 mil pessoas visitam os presos a cada ano – na maioria esposas, mães e irmãs. E, apesar de passarem por escâneres de seguranças vestindo apenas a roupa de baixo, mulheres são frequentemente flagradas trazendo pequenos pacotes de drogas ou telefones celulares dentro de pedaços de pão, tênis, ou brinquedos de crianças – para citar alguns dos meios mais comuns.
[imagem_full]

[/imagem_full]
“Eu vi mulheres tirarem as calças, se abaixarem e inserirem drogas em suas vaginas enquanto esperavam para passar no escâner”, explica a esposa de Silva, que costumava visitar ele duas vezes por semana. Essa é apenas uma das lembranças amargas que guarda dos dias de visitação. Ela tinha que entrar na fila por volta das 3h da manhã do lado de fora do presídio para garantir que conseguiria entrar na cadeia para ver o marido até o meio da manhã. Lá dentro, passava o dia circulando na galeria onde Silva morava e o pátio adjacente, entre ratos, lixo e esgoto. Para matar a saudade do marido, se submetia a visitas conjugais controladas de perto pelos plantões. Com lençóis pendurados no teto, uma cela era transformada em dois quartos de motel onde os casais tinham 15 minutos para transar – e nem um minuto a mais, a não ser que pagassem por isso.
Em dezembro de 2014, o juiz Brzuska e a Brigada Militar fizeram uma tentativa de reconquistar um pouco de controle sobre o contrabando no presídio, introduzindo um escâner de corpo de alta tecnologia, no qual os visitantes não precisavam nem tirar a roupa. Desde que o sistema foi implantado, uma grande quantidade de drogas foi apreendida na porta de entrada do presídio. Mas os itens ilegais não deixaram de circular entre os presos. “Familiares e membros do crime organizado agora jogam pacotes de drogas por cima dos muros”, explica Brzuska. Além disso, é comum ver ratos correndo pela instituição vestindo colares feitos de pedras de crack, e camundongos com pacotes de cocaína costurados na barriga.
Ao mesmo tempo, suspeita-se que guardas tenham os seus próprios acordos com os presos. Em 2013, um policial militar do Casarão foi preso com vários celulares, meio quilo de maconha e muitas pedras de crack no seu armário. “Os criminosos sempre encontram um jeito, não desistem nunca”, lamenta Brzuska. E, depois que os itens ilegais entram para dentro do presídio, não é fácil detectá-los. A Brigada Militar realiza buscas uma vez por semana nas galerias. Mas os presos têm tantos recursos que chegam a usar cimento para esconder os produtos nas paredes. E como as paredes são sujas e manchadas, é difícil perceber emplastros de cimento fresco. Em algumas galerias, os presos usam outro artifício: penduram lençóis coloridos nas celas, como se fossem papel de parede.
Além do lucro proveniente do mercado negro, as facções criminosas também ganham dinheiro mantendo um mercado legal dentro do Presídio Central. Eles administram cantinas dentro das galerias, onde os presos compram todos os tipos de produtos, desde sabão para roupas até bolachas. Os presos precisam desse serviço, já que o governo não oferece produtos de limpeza ou higiene e apenas o essencial de comida: arroz, feijão, pão e ovo. Comida que, segundo Silva, não é suficiente para todos e “tem um gosto horrível”. Só que os chefes das facções criminosas definiram que só os plantões podem comprar itens para serem revendidos nas cantinas. E eles devem revender os produtos com um acréscimo de 400% no preço. Parte do lucro fica com a cúpula das facções e parte com os plantões, o que faz do cargo uma opção de carreira um tanto invejada lá dentro. “A verdade é que, para os presidiários que coordenam as galerias, é um bom negócio estar preso”, afirma o repórter Dorneles. “Eles ganham mais dinheiro lá dentro do que ganhariam do lado de fora. E ainda tem direito a vários benefícios, como as suas próprias camas, TV de plasma, freezer e drogas à vontade.”
[olho]”Em buracos de 1 metro por 1,5 metro, dormindo em camas de cimento, os presos convivem em sujeira, mofo e mau cheiro insuportável”[/olho]
Outra forma que as organizações lucram com o Presídio Central é incentivando os presos a continuar trabalhando. Os chefões do crime ganham uma porcentagem sobre qualquer atividade econômica desenvolvida nas galerias. Fernando Marques, 36 anos, que estava cumprindo pena de 104 anos por assalto a mão armada, era um desses “trabalhadores”. Sem nunca deixar os corredores do pavilhão D, ganhava pelo menos R$ 5 mil por mês no ano de 2014 aplicando o “golpe do aluguel”. Ele usava um telefone celular para colocar dois anúncios nos jornais locais. Um anunciava uma vaga para uma secretária; o outro, um apartamento para alugar. Pelo telefone, a secretária era contratada e instruída a ir numa imobiliária pegar a chave de um apartamento específico que estava para alugar. A seguir, era orientada a mostrar o imóvel aos interessados.
Assim que alguma vítima decidisse alugar o apartamento, a secretária recolhia um valor equivalente a um mês de aluguel e repassava o dinheiro para uma comparsa do preso que estava em liberdade. Só mais tarde, quando já estava planejamento a mudança, a vítima se dava conta que o apartamento na verdade não pertencia ao homem com quem tinha negociado pelo telefone. “Ele enganou muita gente até ser preso”, afirma a delegada Carmem Regio, de trás da sua mesa de trabalho na 17ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. “E a gente só descobriu que ele estava dentro do Presídio Central porque realizamos escutas telefônicas, e percebemos que ele estava sempre no mesmo lugar – bem onde fica o presídio”, afirmou. Assim que o crime foi descoberto, um juiz emitiu um mandado de prisão para Marques – um episódio especialmente esquizofrênico do sistema carcerário brasileiro considerando que o suspeito já estava dentro da cadeia. O criminoso acabou sendo transferido para a prisão de segurança máxima de Charqueadas, onde a Justiça tinha a esperança de que ele não teria mais condições de praticar o golpe. Os seus advogados têm tentado, desde então, a sua transferência de volta para o Presídio Central.
Para Renato Dorneles, esse é um exemplo clássico que explica como o Presídio Central virou uma prisão de mentirinha. “Não existe isolamento porque os presos continuam em contato com o mundo exterior através dos celulares. Não existe prevenção do crime porque eles continuam a vender drogas e cometer crimes do lado de dentro. E não existe reabilitação porque na verdade eles saem muito piores do que entraram”, resume. A solução, segundo ele, seria investir mais na instituição, tanto na infraestrutura quanto no número de policiais (hoje são 3 guardas para cada mil presos, sendo que a recomendação do Conselho Penitenciário Estadual é de 1 para cada 5). Mas o jornalista sabe que a proposta esbarra na opinião de muitos brasileiros que acreditam que o governo não deve gastar dinheiro com criminosos. “O que a população não entende”, explica, “é que ao não investir no Presídio Central, o governo está ajudando a incentivar o crime organizado e as atividades criminais”.
Diante da mesma suspeita, em 2009, a Câmara dos Deputados conduziu uma CPI sobre o sistema carcerário. Após oito meses de investigação, quando os deputados visitaram a maioria das prisões no país, a comissão concluiu que o Brasil tinha 422 mil presos, número que excedia a capacidade dos presídios em 34% (hoje excede em 38%). Os parlamentares ainda advertiram que o Presídio Central era a pior cadeia do Brasil, uma verdadeira masmorra do século 21. “Em buracos de 1 metro por 1,5 metro, dormindo em camas de cimento, os presos convivem em sujeira, mofo e mau cheiro insuportável. Paredes quebradas e celas sem portas, privadas imundas (a água só é liberada uma vez por dia), sacos e roupas pendurados por todo lado… uma visão dantesca, grotesca, surreal, absurda e desumana. Um descaso!”, está escrito no relatório final. Os membros recomendaram que sete pessoas ligadas ao Presídio Central fossem responsabilizadas criminalmente, entre eles Éden Moraes, então diretor da instituição. No fim, a recomendação não foi acatada, mas a repercussão na mídia nacional foi grande.
Outra denúncia contra o Presídio Central se tornou pública em 2012, quando uma inspeção realizada dentro da instituição revelou que a infraestrutura estava consideravelmente danificada. A inspeção foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), preocupados com o estado dos prédios do complexo prisional. O relatório final apontou corrosão e rachaduras nas paredes, fiação elétrica exposta, falta de esgoto encanado e a proliferação de diversos insetos e roedores. O presídio estava em estado crítico, concluíram, e não havia manutenção que pudesse salvar as construções.
Em janeiro de 2013, a questão chegou ao conhecimento internacional. A OAB-RS uniu forças com outras entidades locais, como a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris-RS), e fez uma denúncia formal para a comissão de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). O objetivo era que a organização internacional pressionasse o governo brasileiro a tomar alguma atitude com relação ao Central. Em 2014, a OAB-RS fez outra reclamação, desta vez para o conselho de direitos humanos da ONU (incluindo também o presídio Pedrinhas, do Maranhão). “Como pode o Brasil pleitear um posto permanente no Conselho de Segurança da ONU quando não consegue seguir as recomendações de direitos humanos desta mesma entidade?”, questionou o presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, durante uma entrevista no prédio da entidade em Porto Alegre. As reclamações tiveram alguma repercussão. Em março de 2013, a OEA enviou uma carta ao governo brasileiro pedindo que medidas urgentes fossem tomadas para resolver a situação. A presidente Dilma Rousseff, por meio da sua equipe, respondeu dizendo que o governo federal estava “realizando melhorias”. Mas pouco mudou até agora.
[imagem_full]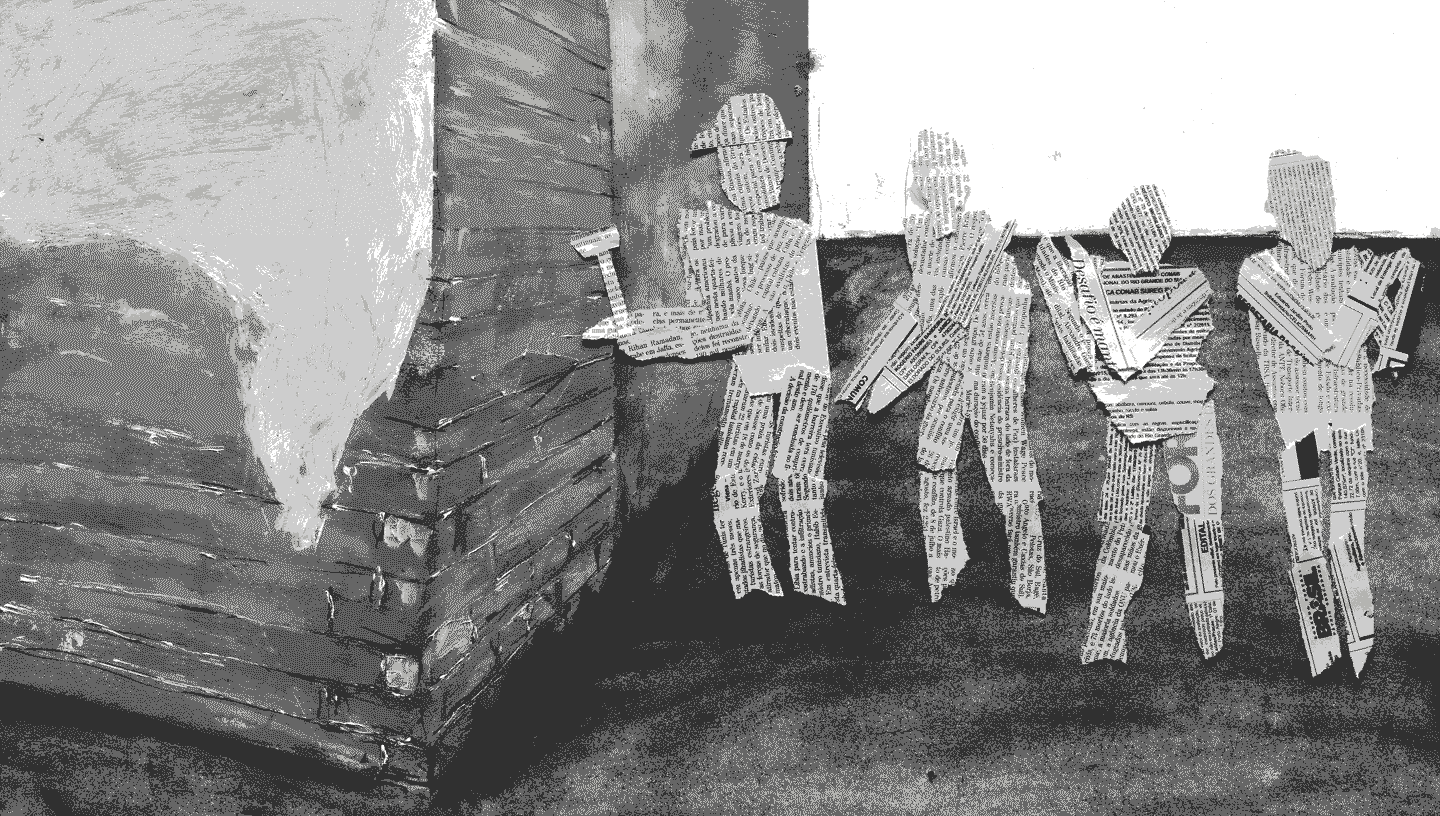 [/imagem_full]
[/imagem_full]
Airton Michels, que é não é particularmente uma pessoa atlética, balançou uma marreta como se fosse um pêndulo com a sua mão direita até bater na parede de tijolos e fazer um estrago considerável. A plateia aplaudiu a cena. “Não é mais possível conviver com uma casa assim”, anunciou, naquela terça-feira, 14 de outubro de 2014. Michels, então secretário Estadual de Segurança, tinha reunido a imprensa no Presídio Central para começar, finalmente, a demolição do velho Casarão. O governador gaúcho de então, Tarso Genro, estava no final do mandato e integrava a linhagem de líderes que haviam prometido destruir o presídio. O objetivo era destruir o pavilhão C (que estava em pior estado) em apenas 30 dias. Logo depois, o pavilhão D seria demolido. O custo estimado para a operação era de R$ 1,1 milhão. Apenas ficariam de pé pavilhões mais novos.
Tendo cumprido a sua missão oficial, Michels entregou a marreta para a equipe de demolição e se aproximou dos repórteres para dar entrevistas. Ele explicou que, em até três meses, restariam apenas 500 detentos no local. “Vamos esvaziar o Presídio Central, mandando presos para outras prisões que estão sendo construídas nesse momento em outras cidades. Tanto que já retiramos 900 presos para começar”, anunciou.
O plano era que a maior parte dos presidiários fossem transferidos para um complexo prisional moderno que seria construído em Canoas com lugar para 2.415 condenados. A construção da instituição, no entanto, encontrou uma série de problemas: o processo de licitação foi lento e conturbado, a rede elétrica da estrutura nunca funcionou e faltou dinheiro para construir a estrada de acesso para o complexo. Outras três prisões que também serviriam para desafogar o Central tiveram problemas semelhantes envolvendo burocracia, falta de recursos e incompetência administrativa. Até hoje, nenhuma das prisões foi inaugurada. Como resultado, os presidiários que haviam sido transferidos do Presídio Central até a marretada de Michels tiveram que voltar para o presídio meses depois. O problema é que, agora, o Casarão tinha um pavilhão a menos, e a cadeia chegou a um recorde de superlotação.
Diante do cenário caótico, a administração do Central e os governos estadual e federal passaram a jogar a culpa um no outro. O juiz Brzuska culpou o governo estadual por precipitar a demolição do pavilhão C. “Foi uma jogada política. Estava terminando o mandato do governador Tarso Genro, e ele queria mostrar que ia cumprir com essa promessa de governo”, ele me disse dentro do seu escritorio. O governo federal também culpou o Estado, dizendo que a instância falhou ao não conseguir construir presídios já aprovados e financiados. “Em 2012, nós fomos forçados a cancelar o financiamento para novos presídios porque o governo estadual não mostrou qualquer iniciativa para construí-los”, afirmou Renato Campos de Vitto, diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) em uma reunião que ocorreu no dia 13 de maio de 2015, em Porto Alegre. Enquanto isso, o governo estadual se defendeu na imprensa, dizendo que não teve culpa dos imprevistos. Para Eugênio Couto Terra, presidente da Ajuris-RS, tanto o governo federal quanto o estadual têm culpa nessa história. “O governo federal nem sempre tem o dinheiro que diz ter. Ao mesmo tempo, o Estado é muito lento para encaminhar os recursos que vêm do governo federal, principalmente porque a cada quatro anos muda o governador, e portanto também mudam as prioridades.”
Escola do crime
Aos poucos, Roberto Silva, o homem que foi preso carregando sete trouxinhas de maconha, foi se adaptando ao sistema do Presídio Central e se tornou bem visto entre os presos da sua galeria. No início, Silva foi elogiado porque sabia cozinhar arroz, feijão e frango, habilidades importantes dentro de uma instituição onde a comida fornecida pelo Estado tem um gosto horroroso. Em seguida, foi apontado como um dos secretários do plantão, com a responsabilidade de coordenar a sua cela e os 20 poucos presos que moravam no cubículo. Após alguns meses, Silva passou a usar um facão na cintura e dar as boas-vindas para novos presos, explicando como as coisas funcionavam dentro do xadrez. Como parte desta promoção, ganhou alguns benefícios: podia dormir sozinho em uma cama e conseguiu comprar um telefone celular que usava para ligar para a mãe e a esposa várias vezes ao dia.
Enquanto isso, a esposa de Silva, uma professora de escola pública, ficou cada vez mais preocupada com o marido. “Eu não queria mais pisar naquele lugar. Eu não queria mais olhar para a cara das pessoas que estavam lá. Não queria mais passar pelo que a gente estava passando. Eu não queria mais estar tão sem dinheiro — por causa do custo de vida dentro do presídio. Eu nunca chorei tanto na minha vida”, ela me disse. A sua única esperança era contratar Vladimir Amorim, um advogado que, de acordo com os boatos que corriam nos corredores do Casarão, fazia milagres ao conseguir a liberdade para condenados na mesma situação que Silva. E, melhor ainda, deixava os clientes pagarem pelo seu serviço em prestações.
Amorim era benquisto pelos presos porque ele havia sido um deles. O advogado veio de uma família de classe média baixa e, aos 25 anos, acabou no Presídio Central após atirar em um conhecido. “Todo mundo andava armado naquela época e, no meio de uma discussão, eu acabei atirando no cara. Mas ele sobreviveu, graças a Deus”, ele me disse quando nos encontramos em uma cafeteria. Enquanto estava preso, dividindo o chão da galeria com outros presos para dormir, ele teve uma revelação. “Os presidiários são seres humanos, muitos querem ter uma vida melhor mas não tiveram oportunidade. E porque são tão pobres não conseguem ter acesso a advogados que realmente os ajudam.” Quando foi solto em liberdade condicional, ele fez uma promessa para si mesmo: iria voltar um dia para o Presídio Central como advogado, para ajudar aqueles homens. Aos 28 anos, completou um supletivo de Ensino Médio e passou no vestibular de direito da Ulbra, uma faculdade privada situada em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Demorou oito anos para conseguir pagar todas as cadeiras da faculdade e finalmente se formar.
Desde que começou a trabalhar como advogado, seu foco tem sido ajudar presos como Roberto Silva, pessoas simples que estão no Presídio Central cumprindo pena por tráfico, ou seja, 76% da população da instituição. “Em geral, estavam carregando uma quantidade pequena de drogas para uso pessoal e ainda assim foram considerados traficantes”, afirma. De acordo com Amorim, os juízes estão acostumados a tomar essas decisões com base na cor e classe social dos acusados. “Tu pode carregar uma certa quantidade de maconha se for rico e tiver estudado. Eles vão te considerar consumidor, e a pena é mínima. Mas se tu tiver a mesma quantidade de maconha e for pobre, preto e morar na favela, eles vão te enquadrar como traficante. E tu vai preso.” Essa tendência ficou pior com a nova legislação de drogas do Brasil, que deixou menos clara as definições para consumidor e traficante, dando aos juízes mais poder de decisão com relação às sentenças. Os números são impressionantes: desde 2005, quando a nova legislação entrou em vigor, a população carcerária do Brasil aumentou 66%, de acordo com números divulgados pelo governo federal.
Quando Amorim assumiu o caso de Silva, outros advogados já tinham tentado pedir a sua liberdade condicional, sem sucesso. Amorim resolveu levar o caso até a máxima instancia possível, o Supremo Tribunal Federal (STF). E, para a surpresa de todos, o juiz Luis Roberto Barroso não apenas decidiu a favor da sua liberdade, como usou o seu caso para exemplificar um problema ainda maior do sistema carcerário brasileiro. Ele escreveu cinco páginas justificando porque que alguém como Silva não deveria estar vivendo no Central. Em um dos parágrafos, relata:
No atual sistema prisional brasileiro, enviar jovens, geralmente primários, para o cárcere, em razão do tráfico de quantidades não significativas de maconha, não traz benefícios à ordem pública. Pelo contrário, a degradação a que os detentos são submetidos na grande maioria dos estabelecimentos e a ausência de separação dos internos entre primários e reincidentes e entre provisórios e condenados, transformam os presídios em verdadeiras “escolas do crime”. Presos que cometeram ou são acusados de ter cometido crimes de menor potencial lesivo passam a ter conexões com outros criminosos mais perigosos, são arregimentados por facções e frequentemente voltam a delinquir após saírem das prisões.
No dia 8 de maio de 2015, o STF ordenou que Silva fosse solto imediatamente. A decisão foi um prelúdio do que viria a seguir. Vendo casos como o de Roberto Silva com frequência, em agosto de 2015 os juízes do STF começaram uma votação sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Até agora, três ministros já defenderam que o consumo próprio de maconha não deveria ser crime. Mas a votação foi interrompida quando o ministro Teori Zavascki pediu vista ao processo.
Dentro do Presídio Central, Silva foi surpreendido pela boa notícia. “Eu fiquei tão feliz que comecei a gritar dentro da galeria que eu estava indo embora e que nunca mais iria voltar”, lembra. Silva saiu pela porta da frente e abraçou a mulher. Agora, relendo a decisão do STF na minha frente, ele se emociona. “O juiz estava certo. Se eu tivesse ficado no presídio um pouco mais, eu não sei no que teria me tornado. Provavelmente eu sairia um dia com sede de vingança e iria atrás do cara que pediu para eu comprar drogas para ele naquele dia. E daí, não teria mais volta”, disse. Silva agora aguarda o seu julgamento em liberdade. Desde que saiu, conseguiu um emprego em uma lanchonete com um amigo, e depois de alguns meses voltou a trabalhar como operador de empilhadeira para uma grande empresa. Mas ele vive com o peso de saber que talvez ainda tenha de voltar para a prisão. E o Presídio Central talvez ainda esteja de pé, pronto para recebê-lo de braços abertos.
***
Esta reportagem foi produzida originalmente pelo Bang e editada pela Agência Fronteira em parceria com o Risca Faca.