O ponto de partida da história de Garth Risk Hallberg é razoavelmente comum. Rapaz de 20 e poucos anos pega um ônibus para Nova York, tem uma ideia, resolve transformá-la num livro, que escreve nas horas vagas enquanto ganha a vida com um trabalho mais tradicional. O desfecho, porém, é inusitado. Em vez de parar na gaveta, o livro, um calhamaço de mais de mil páginas (na edição em português — a americana tem ainda impressionantes 900 e muitas páginas), foi disputado por várias editoras num leilão que terminou em 2 milhões de dólares. Para um autor que nunca tinha publicado um romance. E que ainda vendeu os direitos para o cinema. Para Scott Rudin, produtor de filmes como “A Rede Social” e “Onde os Fracos Não Têm Vez”.
“Cidade em Chamas”, lançado no Brasil neste mês pela Companhia das Letras, apresenta uma coleção variada de personagens, com diferentes capítulos mostrando os pontos de vista de cada um ao longo de vários anos, com pequenos interlúdios (cartas, trechos de revistas, e-mails e escritos dos personagens). No centro da história estão William e Regan Hamilton-Sweeney, irmãos que fazem parte de uma rica família cuja vida muda após o pai se casar com uma mulher ruim que tem um irmão ainda pior — como indica o apelido “irmão demoníaco”, pelo qual ele é chamado em boa parte da história. Em torno deles gira uma lista extensa de personagens, como um professor negro e gay, uma jovem fotógrafa e o amigo apaixonado por ela, um grupo de punks adeptos do “pós-humanismo”, um jornalista, a funcionária de uma galeria e por aí vai.
Com uma grande relação de personagens vem uma grande relação de temas e tramas, passando pela cena da música punk em Nova York no fim dos anos 1970, o ativismo da esquerda, quase todos os tipos de problemas familiares imagináveis e uma história policial que culmina no blecaute que atingiu a cidade americana entre 13 e 14 de julho de 1977. Hallberg mostra que seus interesses são variados assim que atende ao telefone, no escritório da editora Penguin em Barcelona, onde está há alguns meses. “Estava lendo agora sobre o seu país!”, diz, empolgado, dois dias depois de a Câmara brasileira ter autorizado a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Sobre a situação política? “É claro. Fico feliz que você tenha um minuto para conversar sobre cultura”, diz ele (meia hora adiante na entrevista ele fará uma relação inesperada entre a situação do Brasil e seu livro). “Cidade em Chamas” já nasceu assim, conta ele: não como uma ideia simples, e sim com política, cultura e história entrelaçados.
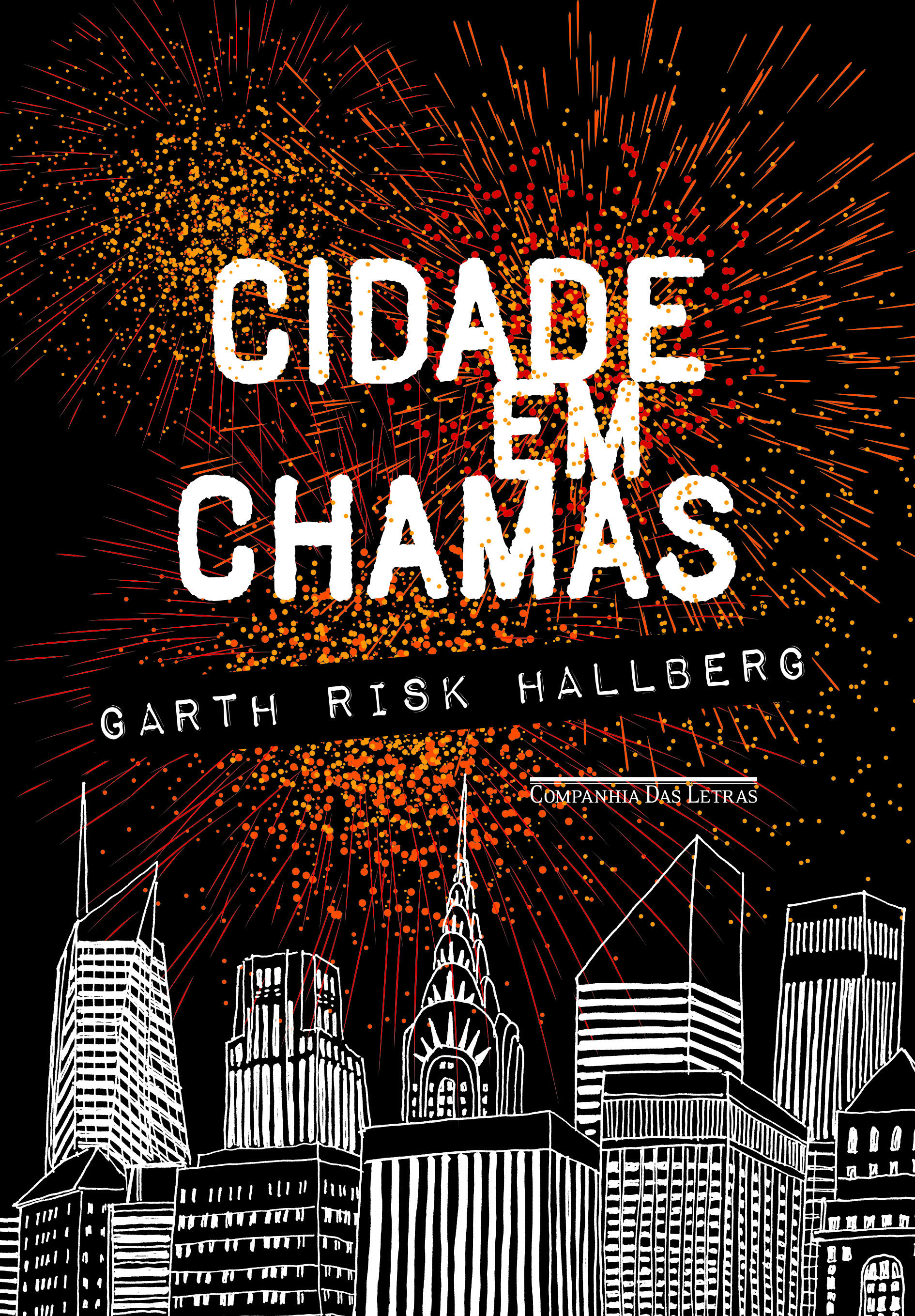
PRÓLOGO
“Por mais estranho que pareça, todas as coisas que você mencionou [uma lista que incluía diversos personagens, o real blecaute em Nova York e os tiros que um dos personagens recebe na primeira parte do livro] chegaram até mim fundidas no verão de 2003 no espaço de três minutos”, conta ele. Mas essa trama tem um prólogo e, como mostra no livro, Hallberg é um contador de histórias que não poupa detalhes em nome da concisão e volta ainda mais no tempo para tentar explicar as ideias por trás da ideia. Tudo começa em Nova York, que (com o perdão do clichê) é quase um personagem da história. Desde os 17, em meados dos anos 90, Hallberg, nascido na Carolina do Norte, sonhava em morar lá. Mas as circunstâncias nunca permitiam. Antes de ir para lá, foi morar em Washington DC, onde sua então namorada, com quem se casou mais tarde, foi estudar, já que não conseguia bancar a universidade em Nova York.
[olho]”Quem poderia dizer que Nova York esperaria pra sempre? A cidade estava lá agora, precisávamos ir”[/olho]
Era lá que eles estavam no 11 de Setembro. “Foi, para tanta gente, um acontecimento muito traumático. A escala daquilo. A visão do assassinato em massa e da destruição da cidade que sempre prometeu tanto pra mim e pra tantas pessoas, por diferentes motivos. Houve um momento naquele dia, quando Washington estava sob ataque, em que você simplesmente não sabia o que estaria de pé no final”, lembra. Embora traumatizantes, os atentados de 2001 também foram esclarecedores para ele. Nos 18 meses seguintes, notou como uma solidariedade tomou conta de Washington e passou, enquanto o sentimento persistiu em Nova York. Logo ele voltou a fazer viagens para a cidade, a poucas horas de onde morava, assim como fazia no colegial. “Era uma época estranha. Tinha uma grande vulnerabilidade e também uma grande sensação de possibilidade, de claridade machucada. No verão de 2003 minha mulher e eu decidimos que tínhamos que nos mudar. Era a hora. Quem poderia dizer que Nova York esperaria pra sempre? A cidade estava lá agora, precisávamos ir.”
Chegando a Nova York de ônibus para procurar um apartamento, reviveu a sensação que tinha quando adolescente ao ver a cidade no horizonte, em que seu coração “meio que se iluminava” — experiência que deu a Mercer, um dos personagens do livro. “Senti que a cidade estava falando comigo e dizendo ‘você conseguiu, está aqui. É a aqui que você pertence, com todas essas pessoas que não encontram uma sensação de pertencimento em nenhum outro lugar’.” Mas algo tinha mudado: as Torres Gêmeas já não estavam ali e a paisagem era diferente. Naquela hora, o iPod em modo aleatório tocou a música ‘Miami 2017’, de Billy Joel, sobre uma Nova York em chamas durante um blecaute, escrita no meio dos anos 70, “época dos discos da Patti Smith, poesia de vanguarda, filmes de Scorsese e milhões de outras coisas”.
“[A música é] sobre uma sensação de uma sociedade na beira do abismo. Imagino que você entenda isso neste momento”, diz ele, na primeira referência ao Brasil. Billy Joel canta do ponto de vista de alguém do futuro, que se mudou para a Flórida para fugir da destruição de Nova York nos anos 1970. “Mas ele canta com uma estranha tristeza, como se algo tivesse se perdido na vontade das pessoas de fugir do risco, da vulnerabilidade, do perigo e do sofrimento invisível. Elas também fugiram de algo que é necessário para uma vida com significado. Eu estava olhando para a cidade no horizonte, ouvindo essa música, e pensei: ‘Aquela época é, de alguma forma, essa época’. A gente também estava num momento de escolha entre, de um lado, segurança e ordem, que são coisas ótimas, e, do outro, liberdade, possibilidade e consciência.”
Esse era o livro, pensou. “Comecei a visualizar os personagens. Tem esse banqueiro andando, ele está com problemas, alguém faz uma oferta que ele não pode recusar. Em outro lugar alguém levou um tiro e está no hospital. Tem esses garotos vindo de Long Island. Metáforas, imagens, acontecimentos. Provavelmente só uns 3% do que virou o livro, mas muitas das coisas essenciais”, afirma. “Foi uma sensação de calor e fusão, como o universo um segundo depois do Big Bang, quando ainda não tinha esfriado e se organizado. Foi uma sensação poderosa de possessão que eu tive. Pra ser honesto, fiquei com medo.”
[olho]”Foi uma sensação poderosa de possessão que eu tive. Pra ser honesto, fiquei com medo”[/olho]
Mesmo ambientada nos anos 70, a trama é atual e não tem uma cara de época. “Era muito importante para mim, por uma razão que não consigo especificar, que não fosse um romance histórico”, diz ele. “Claro que você pode ler Hilary Mantel [autora de uma série de livros sobre a era do rei Henrique VIII] e aprender muito sobre os dias de hoje, sobre política, entre outras coisas. Mas, para mim, esse livro era um romance contemporâneo. Eu senti que tudo que era urgente pra mim em 2001, e 2003 e 2007 queria se expressar dessa forma. A crise financeira, os ataques terroristas, o retorno da história ao solo americano, de certa forma, e o que parece ser uma era global de ansiedade.”
Hallberg, nascido em 1978, também sentia que conhecia aquela época, mesmo que não a tenha vivido. Em sua cabeça, os anos 70 em Nova York se misturavam com os sinais apagados de delicatessens e o entretenimento na rua que via quando era adolescente, nos anos 90. “Tinha algo na textura daquele tempo, um quê de um grande cataclisma no passado que capturou minha imaginação. O cérebro de um escritor é uma estranha coisa estranha e danificada que… Você se apega a pedaços de coisas e não sabe o porquê, mas eles ficam flutuando no fundo da sua cabeça. Dirigindo ouvindo Patti Smith… Eu tinha uma sensação poderosa de ‘conheço esse mundo’.” Se fizesse pesquisas e descobrisse que algo que imaginou estava errado, o ímpeto de fazer ficção poderia se perder. Ou ele poderia se sentir obrigado a usar os fatos coletados. “Eu queria espaço para coisas imaginárias ou anacrônicas”, diz.
Como pesquisa mais formal, fez duas coisas. A primeira foi conversar com pessoas que tinham vivido os anos 70 e o blecaute em Nova York, bem informalmente, sem contar que ia usar aquilo num livro. “As pessoas tinham memórias incrivelmente novelescas, detalhadas. Assim eu soube que minha intuição sobre aquele momento estava certa. Ficou preso na cabeça das pessoas. Parte das pessoas não se lembrava de nada dos anos 80, mas sabia onde estava quando as luzes se apagaram.” E durante um verão, para mergulhar de vez no universo do livro, ia à biblioteca ler o jornal daquele mesmo dia em 1976 ou 1977 em vez de ler as notícias atuais. “Queria coisas objetivamente verdadeiras, mas queria que elas estivessem lá a serviço da ficção.”
PRIMEIRO CAPÍTULO
No dia em que teve a ideia do livro, Hallberg escreveu só uma página. Por algum motivo, mesmo que sentisse uma espécie de eletricidade, achou que não conseguiria continuar. “Eu tinha 24 anos, era um ninguém. Não me parecia alguma coisa que as pessoas faziam aos 24. Coloquei a página na gaveta e pensei que talvez voltasse a ela em dez anos”, conta. Voltou em quatro, depois do universo do livro não deixar sua cabeça. Foram mais três anos e meio escrevendo. Boa parte desse tempo foi gasto tentando encontrar as conexões entre as cenas que tinha imaginado lá atrás. “Eu não queria planejar tudo antes, porque achei que ia virar uma máquina em vez de uma árvore. Queria algo anárquico, mas orgânico. Fiquei no escuro, trabalhando com tentativa e erro. A história foi pra muitos lugares que eu não esperava.”
[olho]”O único jeito de eu fazer era desencanar da ideia de publicar e só ouvir o que o livro queria”[/olho]
A única certeza era de que o clímax seria o blecaute. De qualquer forma, durante a escrita ele sentia que aquilo tudo era impublicável. “Por causa do tamanho e da loucura toda. Ainda acho que é um livro pouco usual de várias formas. Era um projeto impossível. O único jeito de eu fazer era desencanar da ideia de publicar e só ouvir o que o livro queria — sempre tem um leitor imaginário no quarto com você. Eu achava que era um cara de 20 e poucos anos sem o talento pra fazer isso e todo o mundo dizia que a atenção das pessoas está diminuindo. Como isso iria pras livrarias?” Hallberg procurou não dar ouvidos a quem falava que hoje as pessoas só querem saber do que dá pra ler em 140 caracteres. “Pensei que, bom, se eu vou passar a vida fazendo isso, devo tentar fazer algo que eu sempre amei.” No caso: livros que, independente do tamanho e do tema, façam com que você leia rápido, que te arrastem para seu universo. “Como ‘Água Viva’, da Clarice Lispector, que é um tipo de livro bem diferente”, exemplifica.
Entre as criações mais desenvolvidas por Hallberg está o grupo que se autodenomina Pós-Humanistas. São músicos e frequentadores da cena punk que moram juntos numa grande república no oeste de Manhattan e colocam fogo em prédios da cidade como ato político. “Uma coisa que peguei desse período nos Estados Unidos, de modo geral, e em Nova York especificamente, foi essa erupção de violência, que era uma extensão lógica dos sonhos utópicos dos anos 60, com os quais simpatizo profundamente, mas também uma traição desses sonhos. Embora dê pra entender as frustrações das pessoas, suas ações tornaram a política impossível”, diz, citando grupos com o Weather Underground, um grupo militante de esquerda que colocava bombas em prédios do governo e bancos para protestar, entre outras coisas, contra a guerra do Vietnã.
“As pessoas estavam muito frustradas com o ritmo lento do progresso em direção à utopia e começaram a fazer coisas que eram profundamente anti-utópicas. Injustas, maldosas. E justificavam isso para elas mesmas. Mas não pode haver conversas até que todo o mundo concorde em parar de matar. Esse tipo de ação levou aos anos 80, época em que cresci, que afastou as pessoas das demandas justas dos anos 60. Criou-se um tipo de ideologia reacionária”, afirma. Parte da razão pela qual está interessado na situação do Brasil hoje, diz, é seu interesse pelas lutas ideológicas. A esquerda reagindo à direita, que reage à esquerda, que reage à direita, num ciclo sem fim. “Estou digredindo. Há algo no nome pós-humanismo que é importante pra mim, porque promete ir além do humanismo. Mas também implica em dizer que não somos mais humanistas, que não assinamos embaixo das antigas noções de dignidade humana, de direitos humanos, como se víssemos isso como coisas ideológicas.”
PERSONAGENS E EMPATIA
Em meio aos muitos personagens do livro, não há heróis. Hallberg diz que em seu trabalho a empatia é fundamental. “Empatia não é o ato fácil de identificar alguém igual a mim. É o ato mais desafiador de ver a outra pessoa com todas suas falhas e particularidades e ainda ver que, nas mãos de um autor diferente, ela poderia ser eu e eu poderia ser ela. É uma luta diária na vida pra se sentir assim em relação às pessoas que você encontra e é uma luta com os personagens do romance.”
A figura mais próxima do vilão é o “irmão demoníaco”, que aparece menos na história, mas se relaciona com vários dos personagens de alguma forma. “Eu queria que houvesse um antagonista no livro”, diz o autor. “Pra ser totalmente honesto, me inspirei no vice-presidente americano Dick Cheney”, completa, rindo. O personagem não é nebuloso só para os leitores, mas também para o autor. “Ele é um enigma. Quando eu tentava entrar nele, não conseguia. É como tentar abrir uma ostra com a unha”, diz. “Não sei se fico feliz ou não por algo ter escapado do meu controle no livro. É uma coisa bem estranha. Conversei com outros escritores e tem algo sobre escrever ficção: quando você está realmente fazendo isso, quando está no projeto certo, você quer que pareça um pouco impossível. Você sempre quer que seja algo que você seja incapaz de fazer.”
No processo de escrita, Hallberg diz que se sente como todos os personagens, mas ao mesmo tempo não é nenhum deles. “Todos têm partes de mim dentro deles, então todos são, de algum jeito, autobiográficos. Mas também são todos muito diferentes de mim, desconhecidos correndo no escuro”, reflete. “Há momentos em que estamos muito com nós mesmos, mas muito com outras pessoas. Ler poesia é um desses momentos. Olhar para pinturas. Sexo. Usar alguns tipos de drogas. Um longo casamento. Criar os filhos. Hoje meu filho subiu na minha cama, ainda estava escuro, e por um momento eu senti que poderia ver o mundo pelos olhos dele. Lembrei da experiência que eu sabia que ele estava tendo”, diz. O ponto ideal é atingido quando se misturam numa história as experiências pessoais do autor com a dos outros. Uma fusão de John Lennon e suas canções pessoais com Paul McCartney e suas letras sobre personagens imaginários. “Eles nunca foram tão bons sós quanto foram juntos”, opina. “Às vezes John Lennon escreve tão bem porque fala sobre si como se fosse outra pessoa. Às vezes McCartney escreve lindamente sobre outras pessoas porque escreve quase como se elas fossem ele.”
Essa visão de Hallberg sobre a escrita como forma de empatia está enraizada em “Cidade em Chamas”, em que a frase “eu te vejo, você não está só” se repete e funciona como uma espécie de síntese da história toda. Anos atrás, escreveu um artigo para o New York Times no qual tentava entender porque as pessoas escrevem ficção. Para alguns autores, escreveu ele, a ficção mostra que não estamos sozinhos. “Achei que era uma visão ao mesmo tempo bonita e vaga. Escrever pode ser algo muito altruístico ou muito narcisista. Ficção pode ser boa para mim porque faz com que eu me sinta menos sozinho. Ou pode me lembrar de que há outras pessoas no mundo e que tenho que olhar para além de mim. Boa ficção é isso, mas também é mais. É ganhar a sensação de não estar sozinho ao ser forçado a praticar a empatia em vez de demandar empatia dos outros”, diz.
Ele escreve para explorar o mistério que são os outros, uma das grandes oportunidades que viver em cidades grandes te dá. Na maior parte do tempo, diz, passamos pelos outros como se fossem obstáculos, só queremos que eles saiam da nossa frente na escada do metrô. Mas há momentos, principalmente em épocas de crise, em que você percebe o quanto cada vida vale. Quando você vê, por exemplo, alguém chorando falando ao celular. “É uma experiência muito urbana, de se sentir sobrecarregado pela preocupação com o outro a ponto de esquecer de si por um momento. Eu queria que o livro tivesse isso. E no fim percebi que tudo me levava para essa frase [“eu te vejo, você não está sozinho”]. Eu tentei articular isso no texto para o jornal, mas não consegui expressar isso direito fora da ficção”, afirma.
LUZ E SOMBRA
Além de romancista, Hallberg foi poeta (sem muito talento, afirma) e também é crítico literário. Começou escrevendo para o blog de um amigo e chamou a atenção de revistas, que passaram a encomendar textos seus. Ficção sempre foi o sonho, mas acabou esbarrando na crítica e precisava pagar o aluguel. Ler resenhas de outros escritores sobre seu próprio livro, porém, é o caminho pra ficar louco, diz. No final de um livro é preciso se desapegar. “Acho que para conseguir se desprender do seu livro e abrir espaço emocional para outro projeto, e para manter a habilidade de desaparecer no seu trabalho, ajuda mais não ouvir o que as pessoas estão dizendo. Seja bom ou ruim. Quase não importa se falam bem ou mal, no fim o efeito é o mesmo: ajudar você a fingir que não tem que se desapegar da sua obra.”
Também não ajuda estar sob os holofotes como esteve no fim do ano passado, quando revistas como Vogue e New York escreveram seu perfil perto da publicação do livro, destacando os 2 milhões de dólares que ele tinha recebido e chamando-o de fenômeno literário. “Acho que nenhum escritor busca isso. E por um bom motivo: nosso trabalho é muito privado, é muito mais sobre as sombras do que sobre os holofotes. O trabalho é jogar a sua luz pra fora. Parece pouco natural ter a luz voltada pra você”, reflete. “Eu tinha uma mesa e um pedaço de papel e passei anos assim. Foi muito difícil, mas foi uma experiência que me deu algo. Meu trabalho continua sendo sentar nessa mesa e me doar à página. Pra fazer isso, me esforço ao máximo para não pensar onde os holofotes estão e no que as pessoas estão dizendo. Sentar num quarto sozinho por anos é uma ótima preparação pra isso.”
